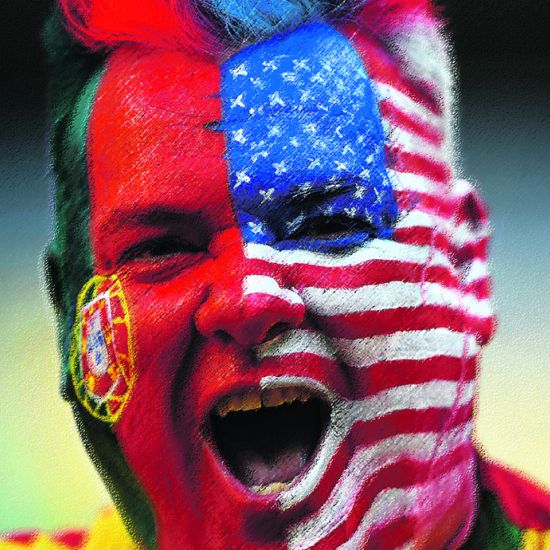Um espectro paira sobre a direita. É o espectro do populismo antidemocrático, que só convive com a democracia enquanto é popular e que, alimentando-se de ressentimento social, apenas sabe agir (ou reagir) ressentidamente. Veja-se a resistência de Donald Trump aceitar a sua derrota eleitoral nas presidenciais americanas. Um mandato inteiro a conviver com instituições sólidas não foi o suficiente para normalizar Trump – como não bastou para normalizar Bolsonaro e não chegará para normalizar os congéneres nacionais deste espectro.
Equivalências de barro
Esta rábula com que começo, do espectro do comunismo, evoca uma equivalência que a esquerda dificilmente faria, mas que na direita democrática — a quem especialmente dirijo este texto — sempre fez caminho. Se a direita que tantas vezes governou Portugal em democracia sempre acreditou numa equivalência de extremos que excluía extrema-esquerda e extrema-direita do arco governamental, porque se dispõe agora a um frentismo com o Chega?
Esperar-se-ia um dilema e uma opção reflectida dentro do PSD. Mas Rui Rio não só decidiu furar as expectativas e fazer um acordo parlamentar com o Chega, como fez da equivalência parte fundamental da justificação. Algo assim: “Se o PS o fez em 2015, com o BE e o PCP, porque não haveríamos nós de o fazer agora?” E muito além de uma certa dose de vingança servida a frio, o ponto de análise mais objectivo é outro: é que, tirando os efeitos retóricos de reacção e justificação instantânea sem a distância do argumento sólido, é bastante óbvio que esta equivalência não passa de um fantasma, evocado apenas porque dá jeito para justificar a iminente aberração frentista a acontecer nos Açores, à custa da outra frente, aquela que derrotou em 2015 a direita.
Assim, a equivalência que realmente existe não é entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, mas entre duas situações que só formalmente se comparam, de partidos derrotados que conseguem reunir, mediante acordos, uma maioria parlamentar.
E mesmo no seu aspecto formal a comparação obriga a uma pergunta: por que razão não foi dada ao PS a oportunidade de, nos Açores, e na qualidade de partido mais votado, formar governo regional, tal como sucedeu com o PSD em 2015, quando formou o XX Governo Constitucional da República? O Presidente da República deveria ter exigido que não fossem queimadas etapas, certo? Como bem apontou a candidata presidencial Ana Gomes, aparentemente, o que Marcelo Rebelo de Sousa proporcionou foi “um atalho” para este acordo tóxico, atalho que nem Cavaco Silva permitiu ao PS em 2015.
Ironicamente, Rui Rio, que acha que assim responde na mesma moeda ao PS, assume, cinco anos depois, dando o braço a torcer sem querer admiti-lo, que o PS fez bem em 2015. Mas o que é pior, está a parasitar, de maneira muito retorcida, a credibilidade da solução de 2015 para justificar o seu acordo com o Chega.
Diferenças de chumbo
Chegados a este ponto em que pusemos em evidência os pés de barro das equivalências, há que olhar para os pés de chumbo das diferenças. O que a esquerda fez em 2015 foi reconhecer que já não havia nada a normalizar, porque o BE e o PCP são partidos que se revêem nos valores constitucionais, até se distinguem pela defesa da sua inviolabilidade. A anormalidade democrática da esquerda à esquerda do PS era apenas um tabu que subsistia há décadas. Mas se a esquerda quebrou, e bem, um tabu do século passado, a direita, pelo contrário, o que está a fazer é erigir um novo totem, participando da mistificação populista. E assim, o PSD não está apenas a normalizar o Chega – está a anormalizar-se a si próprio.
E se é ridículo ir buscar justificação a falsas equivalências com a esquerda – como se o potencial de perigo do Chega fosse o que ele tivesse de parecido com o BE ou o PCP! –, não é menos ridículo o PSD achar que não é responsável pela escolha que faz de parceiros políticos e pela decisão de os validar. Enquanto for um partido legalizado, o Chega tem toda a legitimidade política para fazer os acordos, parlamentares, de governo, regionais, autárquicos, que entender. A democracia prescreve essa legitimidade mesmo aos seus inimigos.
A questão deve ser posta não ao Chega, mas a Rui Rio, Ferreira Leite, Morais Sarmento: tem o PSD legitimidade programática para se conceder o direito de fazer acordos com um partido que age contra as finalidades estatutária e programaticamente definidas pelo PSD?
Por exemplo, como se lê no Programa do partido, na sua versão mais recente, de 2012: “o PSD extrai da defesa da dignidade e da liberdade da Pessoa, uma total adesão à Declaração Universal dos Direitos do Homem e aos novos direitos identificados já, de forma pioneira, pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: desde o direito a uma integridade física e mental ao direito à proteção de dados pessoais, desde a condenação explícita da pena de morte à condenação de qualquer forma de discriminação.”
A esta luz, não restam dúvidas sobre as razões válidas de Moreira da Silva, que pede um congresso extraordinário do PSD, por traição aos valores do partido. E de uma forma mais abrangente, merece solidariedade cívica entre todos os democratas a tomada de posição colectiva de dezenas de políticos e intelectuais de direita contra a deriva iliberal e antidemocrática em curso.
Rui Rio argumenta que fez um acordo escrito, e que só esses pontos escritos comprometem o seu partido. Mas não é assim que as coisas funcionam. Um acordo escrito supõe sempre um compromisso tácito além do que ficou escrito. Amarrado ao acordo, Rui Rio pressiona o PSD a ficar calado e respeitar as partes do acordo quando Ventura tornar a insultar os pressupostos programáticos do PSD, defendendo a castração química, a pena de morte, a segregação da comunidade cigana, a supremacia europeia sobre os outros povos.
E serem apenas quatro os pontos do acordo denota o grau de sonsice política que o mais elementar senso comum desmonta. Como se não avaliássemos previamente o carácter daqueles a quem nos propomos estender a mão para selar um compromisso, por circunscrito que seja! Nem sequer são pontos que dependam exclusivamente do âmbito regional, como foi dito. Reduzir o número de deputados da Assembleia Legislativa dos Açores é uma decisão da Assembleia da República.
O acordo parlamentar dos Açores é como o princípio de uma gangrena da direita democrática e o PSD é responsável por isso. Se ela alastrar, é o regime que está em causa. O Chega não esconde a sua acrimónia com os valores constitucionais e a sua vontade política de mudar de regime, pondo termo à terceira república.
A lógica populista
A tragédia que se abateu sobre o PSD não está apenas em ter dado mão a um partido extremista que não deveria integrar o arco governamental em parte nenhuma do território português pelo facto de prometer rebentar com o arco constitucional. Está igualmente, e de forma chocante, em ter perdido o pé, acolhendo para si próprio a lógica de funcionamento do populismo. Esta assenta no desvio das responsabilidades dos seus próprios actos para outros e, também, numa evocação ressentida e meramente instrumentalizadora do valor da igualdade.
Auto-condescendente, o PSD desresponsabiliza-se, tentando legitimar acordos com o Chega, que o deixam doravante refém do que esse partido defende, apenas com base no facto de ter havido no passado recente acordos de esquerda. Não foram os partidos de esquerda que fizeram o programa do Chega. E não é responsabilidade de nenhum outro partido além do PSD a expressão eleitoral que hoje alcança não ser suficiente para ser partido de governo. Toda esta irresponsabilização é uma auto-menorização não confessada do PSD, desde logo face ao PS, mas é sobretudo uma cedência ao populismo e à sua incapacidade de assumir outro discurso além do da culpabilização dos outros.
Manuela Ferreira Leite azedou por o PS ter “confinado” o PSD e por António Costa ter dito que se demitiria caso tivesse de precisar dos votos do PSD para aprovar o Orçamento do Estado. O uso do verbo confinar é mesmo de Ferreira Leite. Pode ser que ofenda os pergaminhos e até a auto-estima do PSD enquanto partido que se perspectiva como naturalmente de governo, mas não é razão para ceder ao populismo.
António Costa é como um competente jogador de xadrez, eficaz a deixar o rei do adversário sem jogadas. Aliás, isso não aconteceu mais com o PSD do que com os partidos à esquerda do PS. O que há a fazer é jogar melhor, recuperar eleitorado. Actualmente, não parece que essa inteligência frequente muito os lugares de decisão do PSD nacional. E isto deveria sobressaltar a direita que se reconhece no arco constitucional e todas as outras forças políticas que integram este arco.
Depois, há esta prática populista (com raízes na moral neoliberal e austeritária) a que já várias vezes chamei “igualismo” e que consiste em tratar tudo por igual, ignorar as diferenças e recusar as distinções qualitativas. Dizer-se, como Morais Sarmento, que “o apoio às nossas propostas não se recusa” significa muito claramente que para ele a regra do jogo passou a ser vale tudo, qualquer apoio, não importa de que sinistro lugar venha, é tudo igual. É como o empreendedor que fecha os olhos à origem do capital dos seus investidores, tudo serve, todos servem.
Ou como Rui Ramos, que escreve que «Em 1979, também Sá Carneiro foi acusado de dar a mão à “extrema-direita”. A “extrema-direita” era então representada pelo professor Freitas do Amaral. Enfim, cada época tem o Hitler possível.» Como historiador que é, compreende-se o gosto de Ramos em pôr em perspectiva os acontecimentos da actualidade, mas a um tal preço de diferenças negligenciadas que estarrece qualquer espírito minimamente prevenido. Alguém em algum momento histórico comparou Freitas do Amaral a Hitler? E alguém da direita contemporânea de Sá Carneiro ficou em sobressalto com a AD?
Comparar o incomparável é o expediente retórico por excelência do igualismo: ignoram-se diferenças, ilegitimam-se diferenças, de tudo fazendo moeda de troca, tudo igualmente respeitável ou desrespeitável, a democracia convertida numa pornografia política.
Por último, João Miguel Tavares escreve: “a democracia é precisamente o regime onde posições abjectas podem ser defendidas de forma legítima, da castração química de pedófilos às 35 horas de trabalho na função pública.” Precisamente, não três vezes. Não, primeiro, porque defender as 35 horas de trabalho na função pública não é abjecto em nenhuma democracia. Não, em segundo lugar, porque a castração química de pedófilos é abjecta em qualquer democracia enquadrada num estado de direito em linha com os direitos fundamentais. Não, em terceiro lugar, porque, em geral, em princípio, de forma normativa, a democracia é precisamente o regime onde nem todas as posições podem ser defendidas.
O desafio que se coloca a todas as forças políticas neste tempo em que paira por toda a parte o espectro do populismo antidemocrático é reiterar o vínculo ao arco constitucional. Para isso, é crucial que os partidos políticos, sobretudo os que não estão no poder, não deixem de se representar a si próprios ao serviço do bem comum, cada um à sua maneira, com as suas convicções sociais e económicas. E sem tornarem a conquista do poder um fim cego que justifica todos os meios, todos igualizados, sem distinções entre o normal e o abjecto. E sem explicarem o poder que não conquistaram desviando todas as responsabilidades de si próprios, entregues ao narcisismo e ao infantilismo, outras tantas tendências do tempo.
O poder tem de ser sempre mais meio do que fim e a responsabilidade é o pulso firme que conduz essa proporção. O sobressalto da direita nestes dias justifica-se, diante do espectro do populismo antidemocrático. Para garantir que todos os democratas em Portugal, possam continuar, sem medo, a ser adversários políticos.
O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.