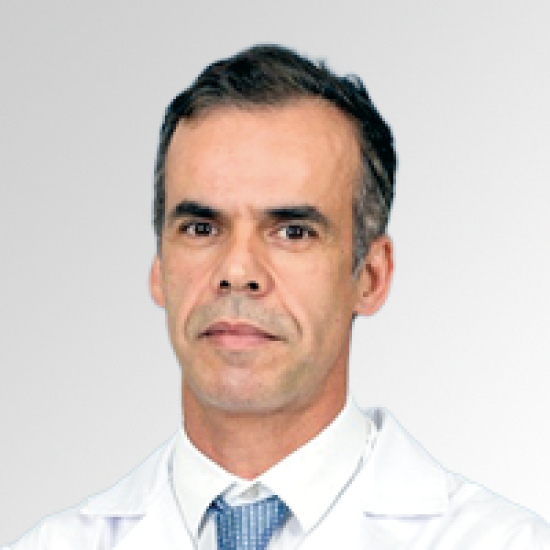Há algumas semanas, na sua página no Facebook, o investigador do ICS Pedro Magalhães comentou uns dados do Inquérito Social Europeu e do “Estudo Eleitoral Português 2002-2015” sobre a polarização política e a antipatia partidária em Portugal, notando como ao mesmo tempo que os eleitores que se identificam como ou “de esquerda” ou “de direita” têm posições semelhantes em relação aos mais variados temas, as pessoas que se dizem simpatizantes de um determinado partido afirmam ter um pronunciado (e crescente) grau de antipatia para com todos os outros.
Segundo Magalhães, “o facto de os eleitores que se dizem de ‘esquerda’ não parecerem ter posições sobre os temas muito diferentes das posições dos que se dizem de ‘direita’” (não era em vão que aqui escrevi que os eleitorados dos vários partidos querem todos mais ou menos o mesmo) não significa que “não haja polarização”; esta, no entanto é “afectiva” em vez de “ideológica”, como se os eleitores pensassem “quanto mais gosto do meu partido, mais gosto dos do ‘meu lado’ e mais detesto os ‘do outro lado’”.
Num ensaio publicado em Março passado na “The American Interest”, Richard Thompson Ford explicou bem como esta “patologia social” funciona e os perigos que ela implica. Para Ford, termos como “liberal”, “conservador”, “esquerda” ou “direita” são hoje praticamente desprovidos de qualquer significado, mais “identificações pré-cognitivas que vêm com dogmas inerentes” do que “posições raciocinadas passíveis de discussão, compromisso ou revisão consciente”.
Por outras palavras: os eleitores adoptam uma determinada posição sobre um particular assunto por essa ser a posição da “esquerda” ou da “direita”, em vez de apoiarem a “direita” ou a “esquerda” por defenderem uma posição a que chegaram previamente, após “considerarem factos e méritos”; as “convicções políticas” tornam-se mais uma questão de “estilo de vida” do que de “filosofia”, e a “identidade política” uma “validação do sujeito através da identificação com um totem”, em que o que importa não é o conteúdo da “identidade” a que se adere mas a “identificação” que essa adesão oferece.
Ou seja, os eleitores encaram a política como encaram o futebol, pertencendo a um clube e defendendo por ser o clube, não pelo juízo que fazem acerca da forma como joga. Como diz Ford, as posições que adoptam são adoptadas por serem uma afirmação dessa sua identidade política, posições “arbitrárias” que preenchem um “vazio” de convicções sinceras.
Por isso vemos – nos EUA ou em Portugal – os adeptos de cada clube partidário a vilipendiar no opositor os mesmos defeitos que cegamente ignoram nos seus ídolos. Como os adeptos do Benfica ou do Sporting que chamam horrores aos dirigentes do adversário consoante o lado da Segunda Circular em que gostam de ir assistir à bola, os adeptos da “direita” ou da “esquerda” acusam o outro “lado” da maior perfídia a cada frase que os respectivos notáveis emitam, como se o próprio objecto dos seus afectos não espelhasse vícios semelhantes, ou essa denúncia não desnudasse simultaneamente a sua própria hipocrisia e incapacidade para o exercício do pensamento crítico.
Por muito que se fale da “radicalização” da política, seja em Portugal seja nos EUA, a natureza dessa “radicalização” é pouco compreendida. Ela reside na tal “patologia social” diagnosticada por Ford e evidente na polarização política “afectiva” identificada por Magalhães: está não tanto num crescente fosso entre as convicções e políticas defendidas por cada um dos “lados”, mas no comportamento tribal que norteia a acção dos chefes políticos, dos seus aguadeiros e dos respectivos simpatizantes, vendo “neles” a encarnação de todos os males e em “nós” a corporização do bem absoluto, sem que por um segundo sequer lhes ocorra que nuns e noutros se encontram exactamente as mesmas falhas (entre elas essa incapacidade de os reconhecer [os males] em si próprios).
O problema desta “radicalização” não é apenas o de, como Ford escreve, essas “filiações arbitrárias” serem “em última análise insatisfatórias, como qualquer adepto compreende”, criando um “duradouro sentimento de vitimização” que olha para a política como um “desporto competitivo” em que está sempre tudo “comprado”.
O principal problema da “radicalização” nascida da ascensão do clubismo partidário é o de, como já aqui escrevi, representar uma grave doença dos nossos sistemas democráticos: sendo “cada vez menos capazes de pensar criticamente sobre a realidade política”, somos cada vez menos “capazes de avaliar o que está bem, o que está mal e quem poderá ou não fazer melhor”, ou seja, de fazer o tipo de juízos que a democracia nos dá liberdade para fazer e dos quais, aliás, a própria democracia depende.
O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.