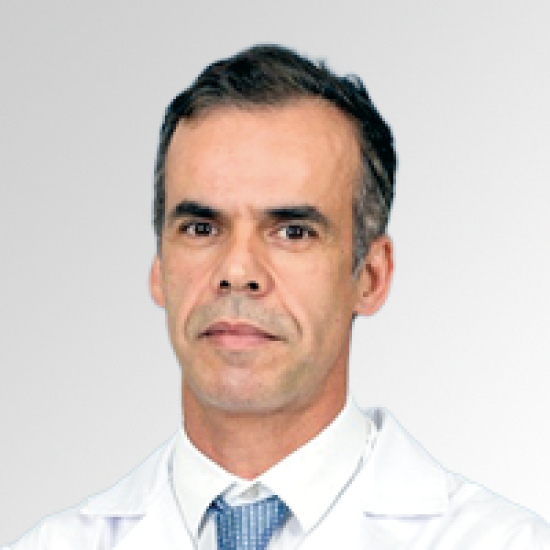Para mal dos meus pecados e, acima de tudo, da minha sanidade mental, gastei algum do meu tempo este fim-de-semana a ler tanto quando possível acerca do “manifesto” que Brenton Tarrant, um terrorista australiano, publicou online antes de matar 50 pessoas em duas mesquitas da cidade neozelandesa de Christchurch, para servir de inspiração a quem quisesse seguir o seu “exemplo”.
Como bem notou Robert Evans no site Bellingcat, o “manifesto” de Tarrant, intitulado “A Grande Substituição”, está cheio de distrações e provocações cínicas que devem ser tomadas com ainda mais grãos de sal do que aqueles com que devemos encarar a sua ideologia, mas ao mesmo tempo permite perceber o carácter das ideias que o motivam (quanto mais não seja porque o cinismo provocatório é um elemento central da ideologia).
Tarrant vê na “imigração em massa” e na “mais elevada taxa de fertilidade dos imigrantes” a “completa substituição racial e cultural do povo Europeu”, e embora diga não ser fã de Donald Trump como “político e líder”, o terrorista elogia-o “enquanto símbolo de uma renovação da identidade branca e do propósito comum” da “raça”.
Se a referênca a Trump pode ser uma das provocações irónicas que abundam no “manifesto”, a preocupação com a “identidade branca” é sincera e repetida. Tarrant insiste na ideia de que a sua “identidade é europeia” e, “mais importante”, que o seu “sangue é europeu”, e que como tal ele e o seu “povo” são vítimas de um “genocídio branco”, justificando as suas acções e exigindo que outros façam o mesmo para “mostrar aos invasores que as nossas terras nunca serão as terras deles” e que “enquanto o homem branco viver”, “nunca substituíram o nosso povo”.
As semelhanças entre o que escreveu Tarrant e as parvoíces saídas das cabeças de gente como Dylan Roof ou Anders Breivik (terroristas que o australiano cita no seu “manifesto”), o terrorista da sinagoga de Pittsburgh ou os nazis de Charlottesville são evidentes. Mas, curiosamente, aquilo a que o discurso de terroristas como estes mais se assemelha é o discurso proveniente do Islão que dizem odiar, ou – para ser mais preciso – dos fundamentalistas que partilham com Roof ou Breivik o uso do terror como arma contra inocentes de todas as religiões e tons de pele.
Tal como os “supremacistas brancos”, os fundamentalistas islâmicos vivem na convicção de que o seu mundo está a desaparecer, ameaçado por inúmeras forças malévolas que conspiram para exterminar a sua identidade. Se os primeiros vêem essa ameaça na imigração, os segundos – como aquele que é talvez o seu principal pensador, Sayyid Qutb – vêem-na na sociedade “ocidental” e na cultura americana que se expandiu pelo mundo, com a sua “grandeza material” que não “eleva o elemento humano do Homem”, o seu fascínio com a ciência que as afasta da “ordem natural” das coisas, a sua “liberdade sexual” que transforma as mulheres em “tentadoras” da carne (Qutb achou os “seios arredondados” das americanas particularmente poderosos, e disso dificilmente é possível discordar) e os homens em “menos que bestas”, ou a sua separação das esferas política e religiosa causadora de uma “esquizofrenia hedionda”.
O “pai espiritual” do 11 de Setembro, por sua vez, convenceu os seus seguidores – entre os quais um tal de Osama Bin Laden – de que o Ocidente estava a promover uma campanha de extermínio dos muçulmanos, que por isso precisavam de entrar na “caravana da jihad”. Os que responderam ao seu apelo fazem-no com o propósito de provocar o endurecimento da política dos países ocidentais em relação aos muçulmanos, para que estes se revoltem contra esses países, criando assim uma guerra religiosa.
Não por acaso, o terrorista de Christchurch também afirma várias vezes no seu “manifesto” que o seu objectivo é o de acender o rastilho de “uma guerra civil que acabe por balcanizar os Estados Unidos em linhas políticas, culturais e, mais importante, raciais”, para que da violência nasça um mundo novo mais de acordo com as suas fantasias. A razão dessa semelhança é simples: o terrorismo “supremacista branco” partilha com o terrorismo fundamentalista islâmico a mesma paranóia em relação à modernidade e ao mundo tal como é, e a mesma obsessão com um conto de fadas que nunca foi nem será realidade.
Como escreveu Julia Ioffe a propósito do que aconteceu em Charlottesville, o processo psicológico que conduz um indivíduo à radicalização é o mesmo nestes dois grupos: envolve um jovem (na maior parte das vezes um homem) de alguma forma frágil, susceptível a ver-se não só como uma vítima de forças para além do seu controlo mas essencialmente como parte de um conjunto delas, encontrando uma identidade, um sentido (e muitas vezes promessas de satisfação sexual) na pertença a esse grupo e na violência contra os “inimigos” (em particular – mas não exclusivamente – os judeus).
Por muito desconfortável que seja para os membros pacíficos e inocentes da comunidade, o terrorismo fundamentalista islâmico revela que existe um problema no seio do Islão, um problema que os fiéis e as autoridades religiosas islâmicas (no sentido em que elas existem no Islão) têm de confrontar (como os terroristas justificam as suas acções com passagens do Corão, só os intérpretes deste último poderão retirar aos primeiros a legitimidade que reclamam).
Mas é preciso reconhecer igualmente que o terrorismo “supremacista branco” mostra que também existe um problema no seio das nossas sociedades “ocidentais” (de onde, aliás, são também provenientes muitos dos terroristas fundamentalistas islâmicos), um problema de natureza diferente mas não menos problemático por isso, e com o qual as respectivas autoridades políticas e as populações terão que lidar.
O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.