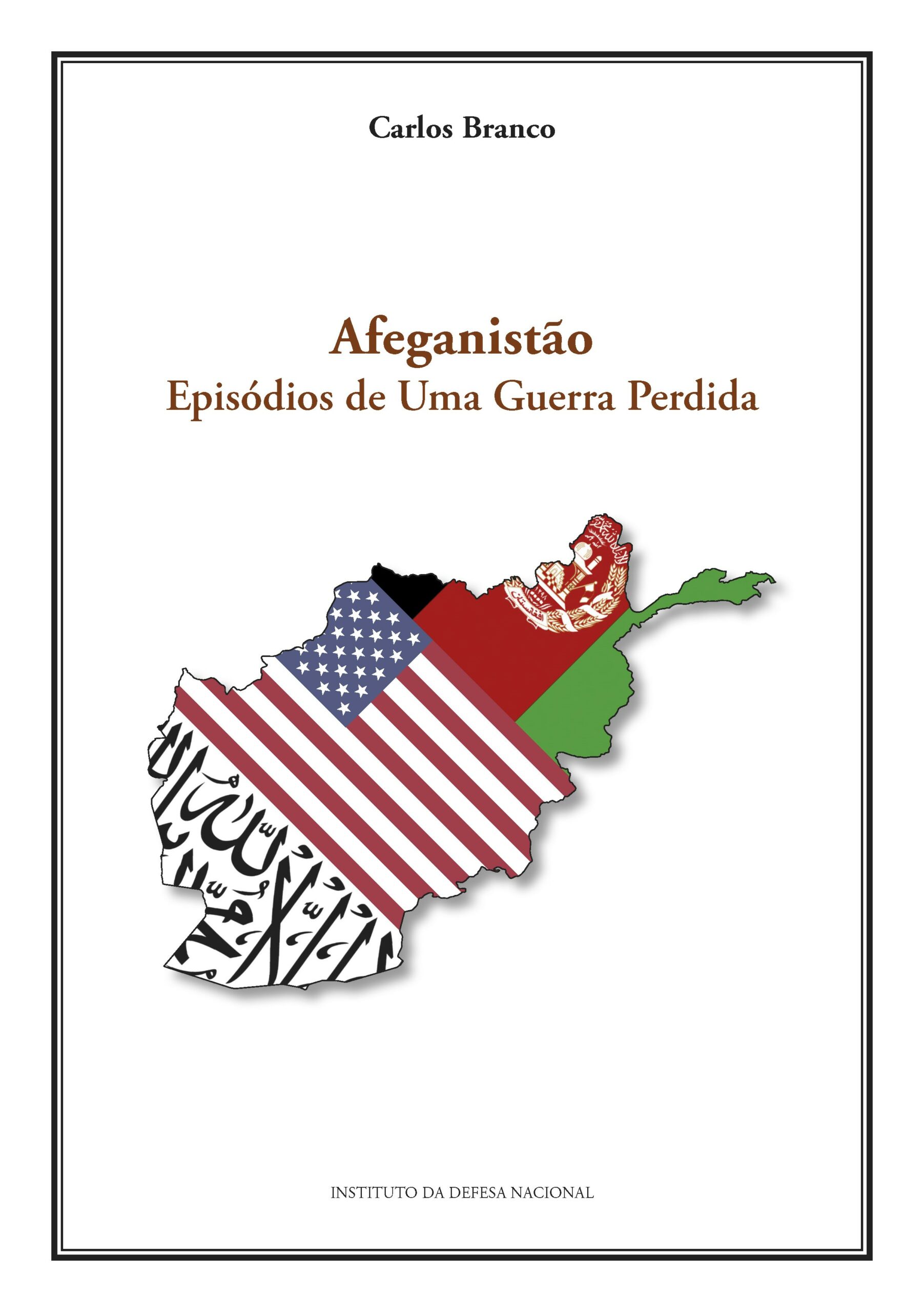
Este texto consiste numa pré-publicação, em exclusivo para o Jornal Económico, do livro “Afeganistão, episódios de uma guerra perdida”, editado com a chancela do Instituto de Defesa Nacional.
Apesar de passados mais de 20 anos sobre os acontecimentos que levaram à invasão do Afeganistão por uma coligação internacional liderada pelos EUA, no dia 7 de outubro de 2001, subsistem ainda dúvidas sobre o que conduziu a essa ação militar, assim como à guerra que se seguiu.
O relatório do FBI sobre os ataques terroristas aos EUA no dia 11 de setembro de 2001, que vitimaram 2.977 pessoas e feriram mais de 6.000 cidadãos americanos, muito reclamado pelas famílias das vítimas que pereceram nos ataques, veio comprovar o apoio de sauditas ligados ao governo da Arábia Saudita, a dois sequestradores que se encontravam nos EUA desde janeiro de 2000. A ausência de desenvolvimentos nesta frente não pode deixar de ser perturbadora. É um capítulo que parece não estar encerrado.
Informação, entretanto, conhecida leva-nos a interrogar se a invasão terá sido efetivamente uma resposta aos ataques terroristas do 11 de setembro, o argumento justificativo da operação militar que prevaleceu, ou se a decisão de invadir o Afeganistão não teria sido tomada antes, por volta de junho de 2001, e o ataque foi apenas um pretexto para a levar por diante.
Do ponto de vista militar, faz pouco sentido invadir um país para destruir uma organização terrorista e matar o seu chefe máximo. Os factos vieram comprovar este ceticismo, quando bin Laden foi morto dez anos mais tarde no seu refúgio paquistanês de Abbottabad, através de uma operação de forças especiais, e a Al-Qaeda não foi eliminada.
Na prática, os EUA fizeram objetivamente aquilo que bin Laden esperava que fizessem, isto é, travar primeiro uma guerra de atrição contra os EUA para enfraquecer a sua capacidade de retaliação, dificultando o derrube de futuros Estados islâmicos. Em quantos mais conflitos estivesse o “grande satã” envolvido… melhor seria. Havia, pois, que o empenhar em guerras, consumi-lo, infligir-lhe baixas e sofrimento insuportáveis, exauri-lo nos campos de batalha afegãos e iraquianos, drenar-lhe os recursos e acima de tudo a vontade, como já era visível em 2009 nas sondagens feitas às opiniões públicas ocidentais, onde começava a ser óbvio a falta de apoio à continuação da guerra.
A invasão do Afeganistão e do Iraque serviram objetivamente a grande estratégia da Al-Qaeda. Para além de os desgastar, eram oportunidades únicas para expandir a jiade para a Arábia, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia e Palestina. Esperava-se deste modo alterar a política externa dos EUA, forçando-os a abandonar os governantes árabes e muçulmanos à sua sorte, como aconteceu no Afeganistão.
Uma vez isso conseguido, ficava escancarada a porta para aceder às capitais dos países muçulmanos do Médio Oriente e do Norte de África. Seria então hora de acertar contas com os “governos apóstatas”. Não fosse a insensata estratégia do Daesh e a situação seria hoje muito mais desfavorável. A retirada das tropas norte-americanas no Afeganistão, em 2021, veio comprovar a correção do pensamento prospetivo de bin Laden.
A guerra ao terror
Neste exercício, não nos podemos esquecer do interesse e da presença continuada e permanente dos EUA no Afeganistão e na região, desde os anos 50 do século passado, tendo-se manifestado de modos diferentes ao longo do tempo. Dois argumentos, que se reforçam mutuamente, ajudam a explicar o interesse de longa data dos EUA pelo Afeganistão, um mais abrangente e profundo do que o outro. Ambos ajudam a compreender porque é que o Afeganistão reúne características para se constituir um centro de gravidade da política internacional e regional.
O primeiro argumento decorre do pensamento geoestratégico clássico marcado pelos trabalhos de Halford Mackinder, revisitados por Zbigniew Brzezinski durante e após a Guerra Fria, que influenciou decisivamente as políticas norte-americanas no confronto com o seu arqui-inimigo soviético; o segundo prende-se com considerações geoeconómicas relacionadas com a competição pelos recursos minerais da Ásia Central e da bacia do Mar Cáspio, e com o controlo das rotas dos oleodutos e gasodutos com origem naquelas regiões. Em particular este último, ajuda-nos a perceber as relações promíscuas da Administração Clinton com os Talibãs de 1994 a 1998, quando a UNOCAL ambicionava construir gasodutos para transportar o gás natural para fora daquela região curto-circuitando a Rússia.
Isto leva-nos a interrogar se a invasão do Afeganistão iniciada no dia 7 de outubro se tratou, na verdade, de uma guerra de necessidade ou de uma escolha. A narrativa centrada na “Guerra ao Terrorismo” veio obscurecer os interesses geoestratégicos e económicos que estiveram subjacentes à intervenção militar.
Pior ainda foi o facto dessa narrativa ter inviabilizado a possibilidade de compreender que o combate no Afeganistão não era contraterrorista, mas sim contra-subversivo. Útil do ponto de vista comunicacional, esse enviesamento tornou difícil perceber quem eram os talibãs, sobretudo que não eram a Al-Qaeda, mesmo quando se tratava dos seus grupos mais radicais como a Haqqani network.
Inicialmente, as forças internacionais foram destacadas para uma missão de paz, apoiar a reconstrução e desenvolvimento do país. Mais tarde, a missão foi reformulada em combate ao terrorismo, mas o que tinham pela frente era uma força de guerrilha, para a qual não estavam preparadas. O envolvimento da NATO no Afeganistão representou o primeiro caso de participação de uma organização internacional numa contra-subversão, algo inédito e que até à altura pertencia ao domínio exclusivo dos Estados. O resultado da contenda não surpreende, dada a inadequabilidade destas organizações para combaterem este tipo de guerras.
Dois pecados mortais afetaram decisivamente a ação contra-subversiva das forças internacionais. Um prende-se com a ausência de um plano de atuação unificado, outro com a unidade de comando. As diferentes organizações internacionais no território – NATO, ONU, UE – e a operação contraterrorista Enduring Freedom tinham as suas próprias agendas, muitas vezes não coincidentes. Nem a ISAF – International Security Assistance Force dispunha de um plano unificado.
Os contingentes tinham múltiplas missões atribuídas – contra-subversão, institution-building, reconstrução económica – sem prioridades estabelecidas. Para além disso, quando o plano da ISAF não se ajustava à agenda dos países contribuintes com tropas, os seus contingentes faziam o que as suas capitais lhes mandavam fazer, em vez de seguirem os desígnios operacionais do comandante das forças da NATO.
O segundo pecado prende-se com a unidade de comando que uma campanha contra-subversiva exige, com a existência de uma autoridade que coordene a ação militar e os esforços civis, o que estava longe de acontecer. A NATO tinha duas missões no terreno (ISAF e SCR); as forças militares americanas tinham quatro cadeias de comando diferentes. Não havia um primus inter pares.
O cenário não era diferente no capítulo da designada “reconstrução e desenvolvimento”. Não existia um plano que definisse prioridades na utilização dos fundos destinados aos programas de reconstrução. Não havia ideias sobre onde e como gastar o dinheiro. Cada nação tinha o seu próprio plano, que implementava na região onde atuava, de acordo com as suas prioridades e agenda.
Mas se não existia um plano internacional, também não havia um plano afegão. Karzai e o seu governo não tinham capacidade nem competência para gizarem um plano. Não havia no governo pessoas preparadas para implementar as fantásticos ideias propostas pela comunidade internacional. A cooperação entre os afegãos e as organizações internacionais, essenciais para o sucesso da missão, deixava muito a desejar.
Por volta de 2009, a guerra no Afeganistão encontrava-se num impasse e a solução tinha necessariamente de ser política. Não bastava o presidente George W. Bush ter-se envolvido no vespeiro afegão sem pensar no que fazer no dia a seguir à queda do regime talibã, vinha agora o Presidente Barack Obama insistir na solução militar, embora com outro matiz: até 31 de dezembro de 2014, com recurso às forças internacionais, mas a partir dessa data apoiada nas forças armadas afegãs.
Os meandros da sociedade afegã
No rol dos erros cometidos não podíamos esquecer o modo como os atores internacionais lidaram com o fator religião e com as elites religiosas muçulmanas, um público alvo de extrema importância. Se corretamente tratadas podiam ter sido parceiros de grande utilidade e, como tal, contribuírem para separar os rebeldes da população. O modo negligente como esta frente foi tratada teve efeitos devastadores para as forças internacionais.
O Conselho dos Ulemás, a autoridade máxima no país em matéria religiosa era o interlocutor exclusivo da comunidade internacional com a comunidade eclesiástica muçulmana. Contudo, a autoridade deste Conselho sobre a rede de mulás era diminuta. A sua influência era praticamente nula. O apoio tácito, para não dizer militância ativa, da maioria dos mulás e dos líderes religiosos no Sul e no Leste do país à ideologia dos rebeldes, produziu um efeito arrasador na manobra contra-subversiva. Em vez de ajudarem a espalhar a mensagem da comunidade internacional, eram portadores de mensagens hostis.
Tinha sido da maior relevância conseguir alterar as atitudes e os comportamentos dos mulás naquelas regiões. Para além da necessidade de interação e envolvimento com os mulás no Sul, tinha sido fundamental desenvolver um plano detalhado de atividades para os influenciar, tornando-os, pelo menos, atores neutrais.
Assimetria e ideologia
Os conflitos como aquele que aqui abordamos são designados como assimétricos. Importa assim perceber onde reside a assimetria. O conceito surge normalmente associado aos meios militares que cada uma das partes tem ao seu dispor, a tudo aquilo a que se convencionou chamar cinético. Nesta perspetiva, as forças internacionais dispunham de superioridade. Contudo, não se pode dizer o mesmo no que respeitava ao domínio não cinético.
Aí os rebeldes dispunham de uma nítida vantagem, por sinal decisiva, neste tipo de conflitos. Por saberem que não conseguiam prevalecer no campo de batalha, o ponto central da sua estratégia residia em desgastar os oponentes, atuar no domínio cognitivo, afetar e moldar perceções domésticas e internacionais. Não precisavam de derrotar militarmente o Governo afegão ou as forças da ISAF para vencerem a guerra, como se veio a comprovar.
No domínio não cinético – crítico para vencer este embate – eram os rebeldes quem estava em nítida vantagem, e foram eles que estabeleceram os termos do combate. Por isso, quando se fala em assimetria deve ser-se mais preciso e clarificar exatamente ao que nos referimos, para não se ficar com a noção errónea de que eram as forças internacionais quem estava em vantagem, ideia que predominou nos meios políticos e na maioria dos think tank e mundo académico.
Esta deficiente interpretação resultava da incapacidade de perceber a complexidade do funcionamento de uma sociedade com características de pré-modernidade, como a afegã. Forças de guerrilha não se combatem com forças que passam efemeramente pelos Teatros de Operações, como acontecia com os contingentes da NATO.
Também não se percebeu como funcionavam os talibãs no campo ideológico. Mais uma vez, a obsessão pelo terrorismo turvou a compreensão dos factos. Os talibãs exacerbavam o nacionalismo, acusando as forças internacionais de invasoras. Não se tratava da narrativa global da Al-Qaeda. Acusavam o Governo afegão de terem vendido a identidade e a liberdade afegã, culpando os estrangeiros e os afegãos apóstatas de quererem destruir o Islão. No centro da sua argumentação estava a acusação de os estrangeiros serem potências coloniais que estavam no país para saquear as suas riquezas, tratando as forças internacionais como invasoras.
Essa acusação era complementada com um forte ingrediente ideológico, como os antigos revolucionários faziam, mas de natureza religiosa. As forças internacionais não eram apenas invasoras, mas também infiéis. Os infiéis eram cruzados que queriam converter os muçulmanos ao cristianismo e abandonar a sua religião em troca de dólares. Resistir aos estrangeiros era um dever nacional. Os atores internacionais nunca conseguiram contrariar esta narrativa.
A desinformação
No final da primeira década de conflito, a falta de progresso na frente operacional começava a minar o apoio doméstico à guerra em muitos países. Para contrariar essa tendência, os EUA socorreram-se da desinformação sistemática, manipulando as perceções da sua população sobre o desenrolar dos acontecimentos.
Esse branqueamento dos factos foi inicialmente contrariado, em 25 de junho de 2010, pelas publicações “The Guardian”, “The New York Times”, “Der Spiegel” e “Wikileaks” quando divulgaram relatórios militares norte-americanos classificados sobre a evolução da guerra no Afeganistão, entre janeiro de 2004 e dezembro de 2009, obtidos através de uma fuga de informação.
Estes documentos davam uma imagem sombria da situação, contrastante com o retrato oficial de vitória e progresso. Dos vários assuntos abordados relevava o número de mortes civis não relatadas publicamente, o aumento dos ataques talibãs, o comportamento comprometedor do Paquistão, que apesar de receber generosas quantias dos EUA para combater o terrorismo, funcionava como santuário da guerrilha talibã, e o conluio destes com a agência de intelligence paquistanesa.
Um dos momentos mais chocantes teve lugar em finais de 2019 quando, após três anos de luta judicial, o “The Washington Post” conseguiu finalmente publicar o relatório elaborado pelo Gabinete do Inspetor Especial para a Reconstrução do Afeganistão (SIGAR), com centenas de entrevistas confidenciais a personalidades importantes diretamente envolvidas na guerra do Afeganistão. O conteúdo das respostas, dadas sob o manto da confidencialidade, contrastava com o discurso oficial das autoridades americanas ou, se quisermos, com as narrativas daquilo que agora pomposamente se apelida de “Comunicação Estratégica”.
As entrevistas davam conta de vários factos preocupantes, envolvendo os responsáveis políticos e militares norte-americanos. Entre outros, a manipulação das estatísticas para dar à opinião pública a ilusão de que a guerra estava a ser ganha; a falta de fiabilidade das sondagens para reforçar a ideia de que se estavam a fazer as coisas certas; o fechar os olhos à corrupção generalizada entre as autoridades afegãs, permitindo o roubo da ajuda americana com total impunidade.
Procurava-se, assim, passar para a opinião pública imagens coloridas que se sabia serem falsas, escondendo as evidências sobre a evolução de uma guerra cujo resultado não era feliz. John Sopko, o responsável pelo relatório, foi muito explícito ao afirmar que “o povo americano tinha sido constantemente enganado”.
A par destes relatos, os entrevistados também comentaram a falta de clareza estratégica e a dificuldade em atingir os objetivos estabelecidos. Alguns foram mais longe e acusaram os altos responsáveis de falta de discernimento. As autoridades americanas faltaram à verdade, não apenas ao seu povo, mas também aos aliados e parceiros que combateram a seu lado, e que tinham igualmente de justificar às suas opiniões públicas, as razões da participação naquela guerra. Infelizmente, esta prática não era nova. Assemelhava-se imenso ao que já tinha ocorrido em 1971, trazendo-nos à memória os célebres “Pentagon Papers”, que contavam algo similar, mas relativamente à guerra do Vietname.
Durante as duas décadas de intervenção internacional, conviveu-se com um regime corrupto que não promoveu o desenvolvimento do país, nem construiu as instituições necessárias ao funcionamento de um Estado democrático viável. Falhou o combate à corrupção. Os aliados afegãos no combate à Al-Qaeda e aos talibãs estavam profundamente envolvidos no narcotráfico.
A isto juntavam-se as reticências do presidente Hamid Karzai em perseguir os seus aliados tribais envolvidos no tráfico de drogas, nomeadamente os da etnia pashtun, por necessitar do seu apoio na competição com os rivais talibãs, que se apoiavam igualmente na mesma etnia. As tentativas de engenharia social levadas a cabo saldaram-se num rotundo fracasso. O projeto de construção de uma democracia sustentável, e as ambiguidades que o rodearam, nunca ganhou forma.
A ação internacional ajudou a criar um estado clientelar. As elites afegãs habituaram-se a viver da ajuda externa. O anunciado elevado crescimento do PIB resultava das enormes quantias transferidas pela ajuda internacional. Cerca de 75% do Orçamento do Estado provinha da ajuda externa.
Segundo Omar Samad, ex-embaixador do Afeganistão no Canadá, foi gasto em reconstrução no país, entre 2002 e 2021, o valor per capita mais elevado na história mundial, um total a rondar os 200 mil milhões de dólares (de um total de mais de 3 milhares de biliões de dólares gastos com a guerra, desde 2001). Apesar desses números astronómicos, após 20 anos de intervenção internacional, 47% da população vivia abaixo do limiar da pobreza.
Um futuro incerto
A situação dramática que se vive presentemente no país é a continuação daquilo que se vivia do antecedente, antes da queda de Cabul às mãos dos talibãs. Havia alguns meses que a função pública e as forças armadas não recebiam salários. Esse foi um dos motivos que levou à debandada das forças de segurança afegãs e à adesão da população aos talibãs, cansada do longo abandono e ostracismo a que era votada pelas autoridades centrais, envolvidas em ostentação e luxo. O governo de Ashraf Ghani era considerado um dos três mais corruptos do mundo. Não será, por isso, de estranhar o regresso dos talibãs ao poder, quase sem resistência.
A tomada do poder pelos talibãs suscita uma reflexão imperiosa sobre o modo como lidar com as novas autoridades, no curto e médio prazo, num momento em que o país, extremamente dependente da ajuda externa, atravessa uma grave crise social, económica e humanitária, que se acentua diariamente.
Os talibãs defrontam-se agora com o desafio de governar, ainda por cima em condições extremamente desfavoráveis, com a necessidade absoluta de responderem à crise humanitária que o país atravessa, agravada pela falta de liquidez e pelas restrições financeiras que lhe são impostas do exterior, ao que se acrescenta uma tremenda falta de quadros técnicos para manter o país a funcionar.
Os 40% das colheitas deste ano comprometidas devido à seca prolongada, os preços dos produtos alimentares a subirem e 3,5 milhões de deslocados internos agravam uma situação já por si insustentável. As receitas que os talibãs conseguirem apurar através das várias fontes ao seu dispor é manifestamente insuficiente para fazer frente às necessidades, como sejam as despesas com a função pública, saúde, educação e o que resta das Forças Armadas. Os talibãs precisam urgentemente de dinheiro, não só para evitar o descalabro humanitário como para cumprirem com as promessas de desenvolvimento económico e terminarem com o narcotráfico.
Há que dialogar com o novo Governo e recompensá-lo com incentivos, se cumprir com um leque de obrigações que estão perfeitamente identificadas. Opções revanchistas que os impeçam, por exemplo, de acederem condicionalmente ao financiamento internacional terão inevitavelmente consequências indesejáveis.
Mas se há problemas cuja superação não depende exclusivamente dos talibãs, há outros que não. Neste último caso, não parece claro que estejam a fazer aquilo que deveria ser feito. O primeiro indicador preocupante foi a constituição do Governo provisório, cuja composição se encontra longe de corresponder à inclusividade prometida e às expectativas criadas. Isso pode levar os doadores a repensar a ajuda. Esperava-se que os talibãs partilhassem o poder e incluíssem no Governo representantes de outros grupos étnicos e tecnocratas. Mas não foi isso que aconteceu.
A preocupação fundamental foi a de constituir um governo onde se encontrassem representadas as diferentes fações do movimento. Uma forma muito particular de inclusividade. Mesmo assim, a solução encontrada não era satisfatória. Inicialmente, o Governo incluía uma representação significativa de líderes da velha guarda, o que não é um bom prenúncio. Com a composição deste primeiro grupo de governantes, tornou-se evidente a existência de divergências políticas entre as diferentes fações, traduzida numa luta pelas diferentes pastas governativas. Era clara a competição entre as tribos Durrani, do Sul, e os Haqqani, do Leste, estes últimos com estreitas ligações ao Paquistão.
Entretanto, em 22 de setembro, após reuniões de enviados chineses, russos e paquistaneses com o Mulá Hassan Akhund, o primeiro-ministro interino, foram acrescentados novos nomes ao Governo, alargando-o a membros não talibãs, incluindo vários tecnocratas, em ministérios de menor importância.
No entanto, a inclusão no Governo de membros pertencentes a grupos minoritários não deve ser interpretada como uma concessão para obter contrapartidas, nomeadamente o reconhecimento internacional, o alívio das sanções ou a ajuda internacional. Segundo alguns analistas, estas novas nomeações visavam fundamentalmente gerir equilíbrios internos, procurando reduzir tensões e acomodar as fações que se sentiram negligenciadas após as primeiras nomeações.
Estes desenvolvimentos conciliatórios não deixam de ter algo positivo, por afastarem o espetro de uma confrontação generalizada e a repetição dos acontecimentos de 1992, como muitos prognosticaram. Contudo, a insensibilidade do grupo relativamente a fatores externos sair-lhes-á cara.
Para lá do improvável reconhecimento internacional, o desconhecimento do modelo de sociedade que querem implementar (social, económico, justiça, por exemplo), além daquilo que foi tornado público irá retrair os doadores, que permanecerão, compreensivelmente, cautelosos em ajudar quem desconhecem. Embora sem guerra, o Afeganistão corre o risco de continuar pobre e miserável, se a fação mais reacionária dos talibãs prevalecer. Essas dinâmicas irão esclarecer-se em breve.




