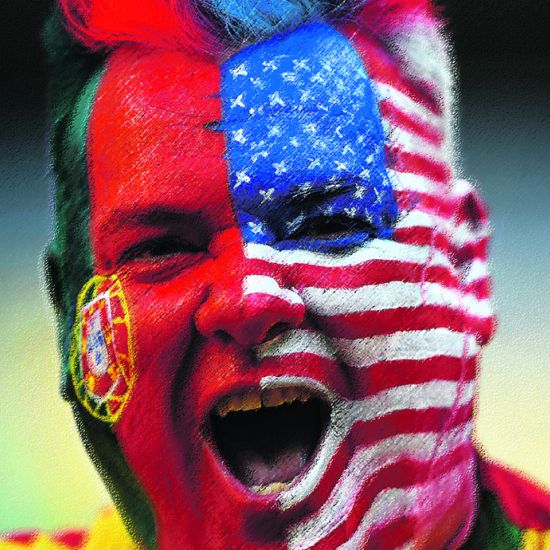Em outubro de 2019 vão realizar-se eleições legislativas. Apesar do resultado eleitoral ser uma incógnita, há boas razões para desejar uma “gerigonça 2.0”. Mas, se o primeiro ciclo político assentou em políticas de caráter redistributivo e na reversão da austeridade, um segundo ciclo deverá incorporar uma agenda emancipatória, de investimento social e económico, atenta às premissas da sustentabilidade e aos problemas decorrentes das alterações climáticas, bem como o aprofundamento da qualidade da experiência democrática, crucial num contexto de crise das democracias. A possibilidade de uma social-democracia mais radical assenta, em boa medida, na capacidade de a fazer evoluir, concertadamente, a partir dessas duas âncoras.
- Transição para uma segunda legislatura: um programa social-democrata mais radical
O ciclo governativo 2015-2019 significou a reversão do programa de austeridade imposto durante os anos 2011-2015. Houve quem pensasse que tal significaria apenas uma reversão da disciplina orçamental a que se seguiriam consequências dramáticas, desperdiçando todos os sacrifícios anteriores exigidos às populações. Novos sacrifícios, mais violentos, teriam de ser impostos num horizonte próximo sob pena de ficar em causa a própria viabilidade do país. Erraram. A economia revitalizou-se, foram alcançados défices historicamente baixos, havendo evidência de que para isso terá concorrido de forma determinante a recuperação de rendimento por parte das famílias. Mas também de uma política mais robusta de redistribuição. A elevada carga fiscal, que suscitou protestos da direita, pôde beneficiar quem mais precisava. É exemplo disso a subida continuada do salário mínimo; ou a política de transportes públicos em torno das áreas metropolitanas, com impacto tremendo sobre uma percentagem significativa da população e que dificilmente um governo futuro poderá reverter sem custos políticos elevadíssimos.
Num certo sentido, estas medidas contradizem a austeridade na sua intenção mais profunda: em vez de contribuírem para a atrofia dos poderes públicos, garantem que estes sejam poderes de capacitação das populações, alargando a esfera de escolha. A política de confiança que permite avançar-se para estádios mais radicais de social-democracia passa precisamente por populações dispostas a pagar mais impostos, sob um princípio de progressividade razoável, tendo a certeza que irão ser empregues em bem social.
Mas um programa de social-democracia mais radical deve integrar também uma política de investimento cujo critério não se resuma a um quantitativo e a uma provisão que terão forçosamente de crescer, antes implique uma escolha qualitativa sobre o tipo de investimento que deve ser promovido. Em vez de exploração das oportunidades de retorno, neutra quanto aos seus impactos, importa investimento na sustentabilidade, com uma projeção de necessidades e possibilidades económicas a médio e longo prazo. A sustentabilidade duradoura deve ser o critério para uma preferência pela infraestruturação de um plano energético nacional assente nas fontes renováveis, mesmo que haja investimentos extrativistas com maior retorno imediato. O mesmo é válido para a obtenção de condições efetivas de combate à desigualdade territorial, seja no que respeita à infraestruturação seja no que respeita à criação de instrumentos de capacitação local para uma economia em proximidade com maior autonomia.
Esta viragem para um paradigma de sustentabilidade não pode fazer-se de costas voltadas para os problemas sociais mais urgentes que hoje atingem as populações. Compreender a economia e a sociedade à luz de um paradigma de sustentabilidade consiste, também, em agenciar políticas de criação de emprego e de proteção social que contrariem a permissividade para com o trabalho precário e a vulnerabilidade social que daí decorre. Ou seja, é necessário enquadrar nos objetivos estratégicos mais amplos da sustentabilidade ambiental e ecológica um conjunto de políticas que visem uma redução urgente e efetiva das desigualdades socioeconómicas e territoriais. As políticas de justiça social devem articular-se com políticas de justiça espacial e ambiental em várias escalas temporais e institucionais de atuação e governação.
Esta preocupação com um horizonte programático amplo é, a vários títulos, uma preocupação em contrariar os riscos associados ao exercício da política diária, facilmente contaminável por um discurso (e uma prática) tecnocrata, pois vai gerindo propostas de especialidade, que têm tendência a ficar desgarradas de uma perspectiva sistémica capaz de proteger o país nas próximas décadas. Assim, um segundo ciclo de governação protagonizado pela esquerda deve apontar para um horizonte temporal que rompa decisivamente com a pequena política dominada pelo tempo imediato.
A melhor forma de não ceder à tecnocracia é ter como horizonte da ação política um projeto delineado para o futuro do país e da sociedade. A título de exemplo, defender teimosamente como objetivo primordial da política económica atingir-se o défice zero poderá comprometer a prazo a hipótese de implementar uma verdadeira política estrutural assente no investimento social e económico. A social-democracia tem de ser capaz de construir um programa de ação política e uma narrativa que concorra aberta e frontalmente com a retórica da inevitabilidade da economia de mercado e das suas leis supostamente intrínsecas e inquestionáveis.
- Transição para uma segunda legislatura: aprofundar a democracia
O novo ciclo governativo, apostado na implementação de uma social-democracia avançada, deve preservar e até normalizar a solução aparentemente instável em que consistiu a “geringonça”. Não no sentido de uma perpetuação, como se fosse uma aliança cristalizada, mas de um processo que se refunda, renovando entendimentos e compromissos. Assim se reforça a objetividade programática por cuja persecução se justificam esses entendimentos e compromissos, e se mantém a fragilidade intrínseca a este tipo de solução governativa, que acaba por ser uma qualidade, na medida em que, desde que alcance um funcionamento estável, incrementa maiores manifestações de responsividade e de prestação de contas por partes dos governos.
Este são aspetos valiosos num contexto que não raro é apelidado de pós-democracia. O primeiro, de que o acordo pluripartidário assenta em objetivos e metas, como um programa de interseção dos diferentes programas, inverte a perceção até então crescente de que os partidos se sentem pouco ou nada obrigados aos programas eleitorais por que se fizeram eleger. Os partidos que participam do acordo mas que não participam da governação pressionarão o partido que governa em termos muito mais exigentes do que se fossem apenas partidos de oposição. O insucesso do programa corresponsabiliza-os, pelo que não só exigem como se dispõem a facultar condições políticas para o seu cumprimento. O segundo aspeto, traduzido em maior prestação de contas e responsividade, proporciona uma vida democrática mais apurada e com menos motivos de insatisfação. A voz das pessoas é ouvida não apenas em eleições e a promessa eleitoral é cumprida.
É uma resposta à crise da democracia, à crescente perceção de que o espaço da escolha política é cada vez menor, em que o domínio da inevitabilidade e do “não há alternativa” é cada vez maior. Uma resposta diversa da que mais fôlego tem ganho, a dos movimentos populistas. Também estes respondem à crise da democracia confiando em lideranças carismáticas antissistema, avançando com programas nacionalistas, de fronteiras fechadas, de exclusão, quando não persecutórios. Esta tendência populista deve ser inscrita numa tendência mais ampla de dessolidarização entre democracia e liberalidade que desde os anos 90 do século passado se aprofundou à escala global.
Obviamente, há outro populismo, de cariz emancipatório, que em vez da exclusão e do particularismo nacional, promove a inclusão com base nos valores do universalismo. Todavia, uma sintaxe igualmente assente em lideranças exorbitantemente carismáticas tem conduzido a uma de duas: ou a progressiva conformação ao sistema de líderes que se eternizam ou a progressiva degenerescência autoritária de líderes que também se eternizam. Se a primeira acaba por não produzir nenhuma rutura com a crise da democracia, mais simulacro do que real mudança, a segunda torna-se disruptiva e antidemocrática.
O modelo político-partidário da “geringonça”, fortemente ancorado na objetividade de um compromisso programático comum, é, pelo contrário, escassamente suportado por lideranças carismáticas. Nenhum dos três líderes partidários envolvidos força a identificação entre a sua pessoa e a sua função, revendo-se bem mais ao serviço da função. Todavia, traz outros riscos, entre os quais o da transformação do sujeito político em poder de administração, com todos os problemas ligados ao controlo político democrático de um tal poder, aos modos da sua distribuição, da justa oportunidade de nele os cidadãos tomarem parte além das fidelidades partidárias.
Assim, se em 2015 se avançou na democracia representativa, no sentido em que o arco da governação se estendeu ao campo da esquerda deixando de estar confinado aos três partidos habituais (PS e os dois partidos da direita), em 2019 a convergência partidária à esquerda tem de criar condições para que a divergência política se expresse num espaço mais alargado capaz de envolver pessoas e grupos exteriores a esses mesmos partidos. O espaço da negociação política e programática deve estender-se a movimentos sociais e a atores coletivos. Sem o envolvimento da sociedade civil, os partidos da geringonça correrão o risco de se enquistar em relacionamentos de poder meramente institucionais e ritualistas afastados do mundo da vida e da Pólis. É a própria democracia interna dos partidos que tem de ser aprofundada e dinamizada.
Esta resposta, que integra na lógica de acordo pluripartidário em torno de um governo minoritário dimensões participativas mais próximas da agenda do populismo emancipatório pode, aliás, ser o ponto de equilíbrio que melhor responde aos riscos identificados em ambas quando deixadas às suas próprias lógicas.
- A “geringonça” e as outras escalas de ação política: europeia e global
Este é o quadro geral em que a experiência de governação que se popularizou sob a designação “geringonça” pode ganhar relevância no debate difícil sobre o destino da União Europeia. A surpresa do sucesso governativo em Portugal constituiu um enorme alívio europeu ao apresentar-se como via alternativa viável às políticas de austeridade. De certo modo, Portugal conseguiu fugir ao precipício rearticulando valores de coesão social que estiveram na origem do projeto europeu. Mas, passar de um alívio de pressão que ameaçava a integridade da União Europeia a uma mudança de paradigma é um passo enorme que falta dar.
Com eleições para o Parlamento Europeu à porta – as únicas em que todos os cidadãos europeus podem votar – e com um ciclo de eleições para os parlamentos nacionais, a experiência de geringonça pode concretizar conteúdo e esperanças para os cidadãos europeus confiarem nos seus partidos na esfera da social-democracia, permitindo-lhes que vençam e governem, contendo o crescimento da expressão eleitoral das forças de extrema-direita, nacionalistas e xenófobas.
Num mundo cada vez mais interligado, o projeto europeu desagregar-se em nacionalismos e populismos significará uma capitulação global diante das democracias iliberais, na verdade etapa intermédia para o cancelamento da democracia e do que ela garante, a começar pelos direitos humanos. Mas, antes disso, o futuro da União Europeia joga-se em cada uma das democracias nacionais que a compõem. A construção de uma social-democracia radical deverá alicerçar-se na luta e no intenso debate político emanado das esferas públicas nacionais, ganhando raízes sólidas para a congregação de dinâmicas e movimentos sociais e coletivos mais alargados e de âmbito internacional.
Este texto resulta de uma versão reduzida e adaptada de um artigo a ser publicado em castelhano na revista “Nueva Sociedad: Democracia y Política en America Latina”.