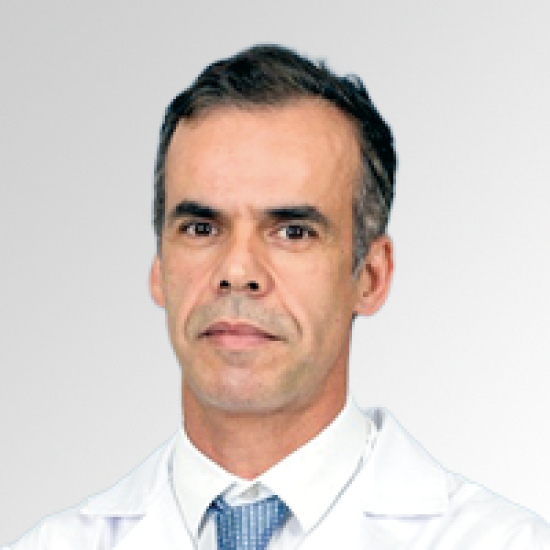O ministro das Finanças apresentou esta semana os traços gerais da proposta do Orçamento do Estado para 2021, onde se incluiu a projeção de um rácio da dívida face do PIB de 2020 de praticamente 135%. Um máximo histórico para Portugal nesta métrica e que, legitimamente, leva muitos portugueses a levantarem a questão: como é que vamos pagar toda esta dívida? A memória da crise soberana de 2010 e 2011, em que nos vimos obrigados a “apertar o cinto”, ainda está fresca e por isso esta questão assusta.
Iremos ter que novamente apertar o cinto (que na verdade nunca foi realmente desapertado)? Esperam-nos sufocantes aumentos de impostos, taxas e taxinhas? O pequeno suspense criado por estas questões é ligeiramente malicioso, por isso deixo já uma rápida resposta: para já não e, como a proposta de Orçamento revela, até podemos esperar uma antecipação dos nossos rendimentos (ainda que não necessariamente um aumento destes).
Por estranho que pareça dada a recente experiência da crise soberana, do resgate do FMI, da supervisão da troika, estamos muito longe de um cenário semelhante. E a melhor demonstração disso é o custo a que a nossa República se consegue financiar (em média das diversas maturidades, basicamente 0%).
O que permite este financiamento a um custo utópico é uma heterodoxia na política monetária, que foi confiantemente reforçada com a chegada da pandemia. Se no pré-Covid já se levavam a cabo políticas monetárias pouco ortodoxas, no pós-Covid essas políticas revelam-se como um mero aquecimento para o que está a ser implementado: um gigantesco esquema de monetização de dívida, a nível global. Um esquema em que os bancos centrais criam nova moeda para, implícita mas não diretamente, ajudar a sanear as dívidas vigentes. Não as pagam diretamente, porque isso criaria “moral hazard” político, mas facilitam o seu saneamento através de um aumento considerável do montante de dinheiro em circulação.
Numa economia com um total de 100 ziliões em circulação, 90 ziliões de dívida são difíceis de pagar/gerir. Mas se se aumentar o total de dinheiro em circulação para, por exemplo, 120 ziliões, esses 90 ziliões, se mantidos relativamente estáveis, serão mais fáceis de gerir.
Fabricar mais dinheiro para facilitar o pagamento de dívidas parece um engenho monetário moderno mas é, na realidade, dos esquemas monetários mais antigos que existe, mais antigo que os próprios bancos.
Existem evidências de que o conteúdo de prata do denário, moeda do Império Romano, caiu de cerca de 90% na altura do nascimento de Jesus Cristo, para menos de 5% 300 anos depois. Nesse período, vários imperadores romanos concluíram que a forma mais fácil de pagar as suas dívidas e as despesas do império era reduzir o conteúdo de prata das novas moedas de forma a conseguirem, literalmente, fabricar mais moedas (se mantivessem o conteúdo de prata não teriam prata suficiente para as novas moedas).
Depois dos romanos (e antes deles também), outros tantos repetiram este tipo de engenho. Não faltam por isso exemplos de como é que a monetização de dívida pode eventualmente acabar, e por isso é que esta era uma política monetária que não era utilizada há bastante tempo nas economias mais desenvolvidas.
Mas contra grandes males, grandes remédios. A grande crise financeira de 2008 foi o primeiro grande mal, a crise soberana da periferia europeia o segundo, o choque pandémico o terceiro. Eis então que se reforça o grande remédio, em proporções previamente inimagináveis.