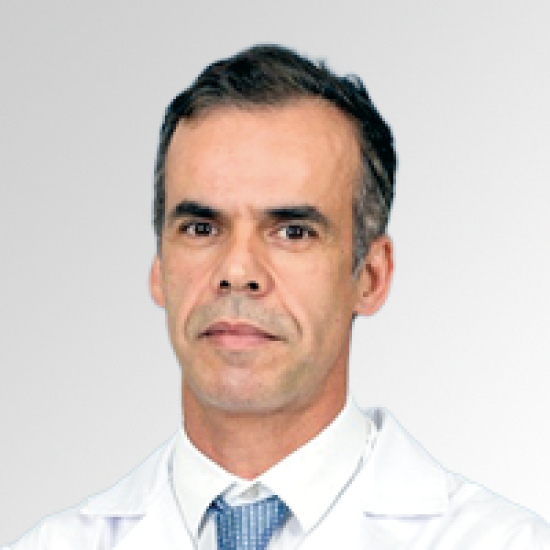Atenção, se ainda não viu o documentário “Fyre: the greatest party that never happened”, deixo o alerta: este texto contém spoilers.
“Viver como estrelas de cinema, festejar como estrelas de rock e f*der como estrelas de pornografia”. É com esse brinde que os empreendedores Billy McFarland e Ja Rule celebram o que esperavam ser o maior festival do mundo e que está relatado no recente documentário da Netflix. Era isso que prometiam a quem voasse para as Bahamas, para a paradisíaca ilha que foi em tempos propriedade de Pablo Escobar.
O evento nunca aconteceu. Os bilhetes custavam milhares de dólares e foram vendidos em algumas horas, mas os empresários não conseguiram montar o festival: não tinham as infraestruturas, não tinham as habitações de luxo prometidas, nem sequer tinham artistas. Venderam uma mão-cheia de nada, promovendo um vídeo com modelos através de influencers do Instagram.
Depois do Fyre, McFarland foi julgado por fraude e condenado a pena de prisão. Para trás, nas Bahamas, ficou uma comunidade destroçada, que trabalhou dias a fio sem receber, que investiu na melhoria das suas casas para receber os turistas e que se endividou para que os seus modestos restaurantes pudessem receber os festivaleiros ricos.
Depois da catástrofe do Fyre Festival, a pergunta que fica no ar é: porque é que continuamos a endeusar o empreendedorismo a todo o custo?
Em 2016, os investigadores Adriano Campos e José Soeiro escreveram o livro “A falácia do empreendedorismo”, onde explicam as raízes das narrativas sobre o empreendedorismo, quem ganha e quem perde com ele. Os autores identificam uma contradição na narrativa: os computadores, a internet, as energias renováveis são fruto do trabalho coletivo e não da iniciativa individual. Na verdade, são trabalho coletivo de instituições financiadas pelos Estados, como é o caso das universidades.
A cooptação do trabalho de outros e a sobrevalorização de ideias supostamente inovadoras e criadoras de valor subjetivo é a face escondida de fachadas empreendedoras, como o Fyre Festival. O empreendedorismo, como iniciativa individual, é vendido como a chave do avanço das sociedades desenvolvidas, mas quando olhamos para as estatísticas, vemos que a iniciativa individual, o autoemprego, é muito mais elevado nas economias mais pobres e muito menos presente nas economias com mais inovação.
O mito do empreendedorismo parecer ter duas funções: primeiro, naturaliza a ideia de que quem é rico é-o porque o mereceu, quando os dados indicam que a mobilidade social é reduzida e que os ricos se mantêm ricos devido à riqueza que é herdada; segundo, enfraquece a capacidade de mobilização e de organização, pois a competição do “cada um por si” destrói a possibilidade de reivindicações comuns de quem vive do seu trabalho.
Aceitar este mito é aceitar a precariedade e os baixos salários como naturais. Aceitar o mito do empreendedorismo é diminuir o esforço coletivo que faz avançar a sociedade, mas é também minar as raízes do Estado social, porque é aceitar o “cada um por si”.
Isso implica retirar o empreendedorismo das escolas e das universidades, substituindo-o por matérias que possam ensinar às crianças e aos jovens criatividade e como trabalhar em conjunto. Esse seria um bom contributo para fazer avançar as sociedades e já seria uma boa lição para retirar Fyre, o festival que nunca aconteceu.