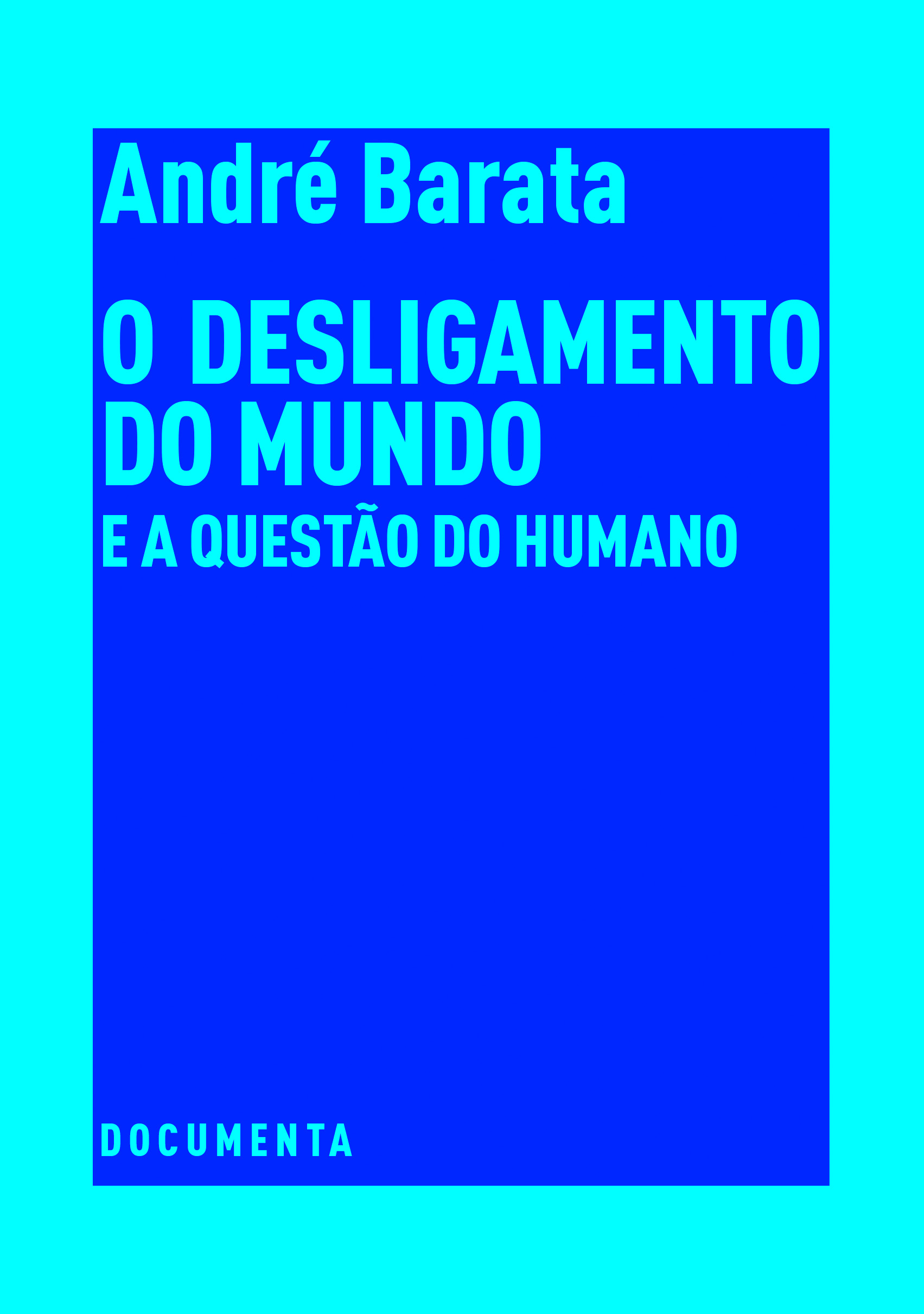
Hoje proliferam os convites a desligarmo-nos. Das redes sociais, do email, das plataformas, para a nossa desintoxicação digital. E também do ritmo acelerado, produtivista, em que fazemos do tempo não uma casa habitável mas uma indústria de alto rendimento. Porém, este convite é feito para que, desligando-nos, possamos restabelecer a energia e a capacidade de voltar a mergulhar na mesma indústria.
Elogia-se a capacidade de desligar como uma válvula de escape que pode ser activada, um benéfico apagar as luzes até ao dia seguinte, para equilíbrio de vida, matéria de saúde, até medicamentável. Como o descanso necessário para recuperar a força de trabalho, os comprimidos para dormir, o lazer indispensável para que o trabalho não perca todo o sentido. E, claro, conhecidos e disseminados os benefícios da prática, desligar-se-ão mais os que à partida já têm mais descanso e lazer, aqueles com mais oportunidades num mundo social cuja regra de funcionamento é a economia da desigualdade. Se puderes – publicitará o sistema socioeconómico – dá uma volta ao mundo e depois recomeça com mais força de onde paraste.
Esta propaganda ao direito a desligar pressupõe a ilusão radical de que andamos excessivamente ligados, quando na realidade nunca andámos tão desligados do mundo e de tudo o que nele não está sob o controlo do sistema de produção global — que é também uma Web global e uma organização socioeconómica que se apresenta como única e inescapável.
Quando se evoca o direito a desligar, até pode ser para religar à Terra, para procurar a experiência, profunda, de pertença ao mundo. Mas será uma ilusão projectarmos o direito a desligar como futuro dos direitos humanos se apenas exprimir o nosso desejo maquínico de podermos fazer um turn off de quando em quando. Precisamente porque não é uma reivindicação humana, mas a nossa conformação a sermos cada vez mais como robôs, dispositivos desligáveis.
Não há melhor indício do nosso desligamento do mundo do que o uso desta mesma palavra para exprimir tanto o problema de fundo que nos afecta como a estratégia para nele nos manter. Até podemos ganhar o direito a desconectar-nos de quando em quando e chamar-lhe direito a desligar, mas é também assim que se encobre melhor o desligamento radical que percorre a própria tendência dos tempos para cada vez maior conectividade.
Este livro propõe-se pensar sobre esse desligamento de fundo, à procura de identificar aquilo de que nos desligamos, aquilo que conferiu legitimidade e valor aos modos por que nos desligamos e medir o alcance da mudança que está em curso. Qual vai ser o nosso futuro com as máquinas? Humanos reivindicam o direito a desligar como se reivindicassem um direito a serem máquinas. Mas, quanto tempo teremos de esperar até serem as máquinas a reivindicarem direitos genuinamente humanos para si? Que conexões há entre o desligamento do mundo e a transição da condição humana para uma condição pós-humana?
A história do desligamento do mundo é antiga. Tão antiga, pelo menos, quanto o monoteísmo, seguindo pelo protestantismo e depois as suas formas secularizadas. Max Weber e Hannah Arendt notaram-no especialmente bem, com os temas do desencantamento do mundo e da alienação do mundo. Mas a enorme e acelerada transformação da condição humana, a apropriação e recriação das condições sob as quais os humanos existem juntos, levaram esse desligamento antigo a um patamar que o vai tornando a questão crucial do que possa ser o futuro.
Este livro foi pensado em torno desta questão. Sabíamos que a experiência social do tempo se modificava – acelerada e artificialmente modificada para se desligar dos acontecimentos, tornando-se dessa forma ferramenta de dominação social e medida universal da desigualdade. Mas esta modificação não se deu apenas com o tempo. Encontramo-la, como um padrão, em outras vertentes da condição pela qual existimos. Para além do tempo, também com a verdade, com as emoções, com o sentido da sobrevivência e do viver, com o conhecimento, com os animais, com a própria ideia de humanidade e de sujeito de história, nos relacionamos hoje de uma maneira desligada.
Este longo e recorrente desligamento confunde-se com a própria história ocidental, tornou-se um elemento distintivo da modernidade, e abeira-se agora, vertiginoso, de um ponto culminante — de súbita e radical transformação da condição humana. Talvez a etapa derradeira do nosso desligamento esteja na nossa desmaterialização. Ou na migração da vida da humanidade para os lugares virtuais e para os lugares de negação da Terra que a ficção científica é pródiga a imaginar.
Justifica-se encontrar um termo de comparação. Só num passado muito longínquo, encontramos uma transformação equiparável à que se vai preparando como futuro cada vez mais familiar: a capacidade de transmitir conhecimento sem ser através dos genes. Yuval Noah Harari chamou-lhe revolução cognitiva – «o ponto em que a história declara a sua independência da biologia».
Hoje, avizinhamo-nos de uma transformação tão profunda como essa que nos transformou em animais de cultura. Também serve de medida de comparação termo-nos tornado animais de imaginação, no sentido de sermos capazes de descolar da realidade que vivemos e imaginar outras realidades, comparando-as, estabelecendo preferências e planos de acção para as realizar. Contudo, ambas estão ligadas, porque não pode haver cultura sem imaginação. Um grupo de animais articulando o que viveram a ponto de poder ser imaginado pelos que os acompanham e ouvem, e fazerem-no periodicamente, num arco temporal que a memória consiga cumprir, é a cultura acontecer. Animais cuja natureza superou o genoma por cultura, o acaso por imaginação e o vínculo da espécie pelo da comunidade.
Por isso, a forma “sujeito de história” que emerge com a cultura não é apenas característica de indivíduos. Necessariamente, é social. E nenhum indivíduo, na medida em que participa de uma comunidade de cultura e história, ignora esse facto. Luc Ferry captou bem a forma como sabemos desse sujeito quando, para saber o significado de uma palavra, perguntamos o que ela quer dizer. Como observa Luc Ferry em “O Homem-Deus”, obviamente não são as palavras que querem dizer, mas um sujeito, como vontade, a quem estamos linguisticamente e, portanto, culturalmente ligados.
Esta transformação em animais de cultura e de imaginação, por impressionante que seja, foi, essencialmente, uma modificação na capacidade de formação e transmissão de conhecimento. Por isso, faz sentido o sapiens que nos adjectiva como espécie. O que não faz sentido é pressupor-se que nos adjectiva de forma exclusiva. Outros primatas são culturais. E a natureza guarda muito mais conhecimento do que as nossas bibliotecas.
A transformação que vem aí não alterará radicalmente a transmissão de conhecimento, que continuará a ser cultural. Com mais recursos, mas essencialmente baseada na partilha e conservação de informação. A era cultural prosseguirá portanto. O que torna a mudar então radicalmente? A comparação pode ser posta assim: a vantagem evolutiva da cultura sobre o genoma foi termos deixado de depender de uma materialidade biológica em particular para a transmissão de conhecimento; a vantagem que agora vem aí na história evolutiva é a independência crescente do sujeito de conhecimento de uma qualquer materialidade em particular, biológica ou outra.
Se o genoma se foi tornando um suporte obsoleto para a transmissão de conhecimento, agora é a materialidade biológica dos animais que trazem o genoma nas suas células que se torna, por sua vez, obsoleta. Por isso, o avanço multimilenar da cultura sobre o genoma é a comparação mais adequada para o avanço da robotização, criação de andróides, invenção de novas materialidades sobre a nossa condição biológica, de seres que nascem, crescem, descobrem-se limites e possibilidades, adoecem e morrem.
Em suma, se a primeira grande revolução na cognição, que originou a cultura, a história e deu sentido à ideia de sujeito humano, foi a libertação do conhecimento da especificação de um tipo único de suporte material de conhecimento – o património genético –, a segunda grande revolução, a acontecer agora e num futuro próximo, é a libertação do conhecimento da especificação de um único tipo sujeito de conhecimento – nós mesmos.
Resta saber se os animais que se reconhecem como sujeitos destes nossos corpos não se tornarão obsoletos. Nós mesmos? Prosseguindo o paralelismo, se os animais culturais que somos tomaram tudo o mais em seu redor como recurso ou meio para as suas finalidades, incluindo os da sua própria espécie, fará sentido perguntar se este novo sujeito de cultura, a emergir na sua independência crescente de qualquer materialidade biológica, não nos tornará também meros meios, fazendo-nos talvez ser outra coisa em que deixe de fazer sentido reconhecermo-nos como os mesmos. Dúvida tão mais pertinente quanto, em vez de um melhoramento humano, o que está em curso é já o cancelamento da imaginação e da cultura, que, em grande parte, estipularam a condição humana.
Esta possibilidade da migração do sujeito para fora de nós mesmos é perturbadora. É como se a criatura fosse finalmente tomar o lugar do criador, mas também como se nós regressássemos à era pré-cultural em que não éramos sujeitos de história, apenas pacientes da evolução natural. Ou como se a cultura e a história, libertas de nós, nos devolvessem à mera evolução e biologia.
Afinal, talvez o humano simultaneamente biológico e cultural não seja mais do que o intervalo evolutivo entre o ponto em que a história começa a declarar a independência da biologia e o ponto em que conclui essa independência, libertando-se dela como um fruto maduro. Se chamarmos revolução a esta independência, então provavelmente a história e a cultura humana não são mais do que o rebuliço revolucionário.
Na verdade, com esta chave de interpretação – de que estamos evolutivamente confinados à condição de intervalo – outra perturbadora leitura se evidencia: esta espécie de devolução do humano à mera evolução está já a acontecer há muito, mesmo enquanto permanecemos corpos de carne e osso, e por mãos humanas. As inquietantes perguntas sobre o futuro têm formulações próximas na história moderna que formou o nosso presente e, por isso, umas e outras podem encontrar hipóteses de resposta que se iluminem reciprocamente.
O processo evolutivo tem sido conduzido, desde o aparecimento da história humana, pela libertação da sobrevivência natural. Constituímo-nos animais culturais e sujeitos de história. Mas, a este respeito, há uma grande e irónica evidência. Esta espécie animal, que ao desligar-se de constrangimentos materiais é mais poderosa do que as outras, vem levando para dentro de si essa técnica de poder – a lei da sobrevivência – e dela tem feito o princípio da sua organização social.
Ciosa em não deixar os constrangimentos da sobrevivência fora do seu pleno controlo, substitui-os por outros inteiramente artificiais, tão artificiais que não devem ter resíduo de materialidade. Mas, logo os tornou realidades inabaláveis, socialmente inescapáveis.
E por isso, apesar de todo o crescimento do domínio da condição humana, de todo o domínio dos factores biológicos – a fome e a morte por exemplo –, nunca vivemos em tempos que deixassem de ser de sobrevivência. Apenas lhe demos um novo meio para a sua manifestação. O domínio humano da sua própria condição foi pretexto para a substituir por uma condição de dominação humana. A história da independência da história face à biologia e à sobrevivência natural foi, na verdade, também sempre uma história de independência da lei da sobrevivência face à biologia.
A questão que fica, porém, é saber se a história que nos chega hoje, como força viva de que participamos, ainda consegue ser mais do que lei da sobrevivência abstraída e desligada da natureza. Ou se, pelo contrário, na sua forma mais decantada, a história humana coincidirá em absoluto com a lei de sobrevivência desnaturalizada. Não é esta uma outra maneira de designar o fim da história humana?
Pré-publicação de um excerto do livro “O desligamento do mundo e a questão do humano”, da autoria de André Barata.



