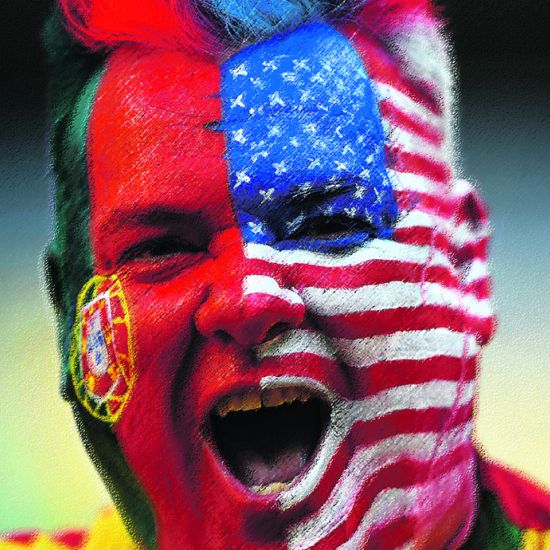Em 1991, o fim da Guerra Fria tornou possível a restauração da unidade da ordem internacional, num quadro de tensão potencial entre a hegemonia unipolar da ordem liberal e a reconstituição dos equilíbrios regionais na Europa, na Ásia ou no Médio Oriente.
Numa primeira fase, essa tensão estimulou as dinâmicas paralelas de integração à escala global, incluindo a entrada da China e da Rússia no quadro multilateral da Organização Mundial de Comércio (OMC), e à escala regional, nomeadamente na Europa e na Ásia. Na Europa Ocidental, a fundação da União Europeia, a criação da moeda única europeia e a institucionalização das políticas comuns de segurança e defesa não perturbam a Aliança Atlântica, que assegura aos Estados Unidos o seu estatuto como potência europeia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) converge com as instituições comunitárias numa estratégia de alargamento convergente para consolidar as novas fronteiras orientais da Europa.
Na Ásia Oriental, a ressurgência da China consolida a relação de aliança dos Estados Unidos com o Japão, que são os dois principais parceiros económicos da grande potência emergente, cuja expansão acelera a integração regional sem pôr em causa o sistema de alianças bilaterais que assegura o estatuto dos Estados Unidos como potência asiática. As instituições multilaterais que formam a arquitectura da ordem liberal garantem aos processos de integração ao nível internacional e regional uma homogeneidade política indispensável.
Esse ciclo virtuoso é posto em causa pelo seu sucesso. Desde logo, a hegemonia unipolar significa que os Estados Unidos procuram consolidar a ordem liberal com a deslegitimação das autocracias, o que justifica as intervenções militares ocidentais para depor os regimes autoritários na Sérvia, no Iraque ou na Líbia. Por outro lado, a transformação da China na segunda economia internacional traduz-se na rejeição da ordem liberal e na edificação de um sistema alternativo para definir uma esfera regional autónoma. Por último, a ressureição da Rússia marca o início de uma estratégia de consolidação da sua hegemonia no espaço post-soviético e de restauração da credibilidade do seu estatuto político, diplomático e militar como grande potência.
As consequências da tentação imperial norte-americana na sequência dos atentados terroristas do “11 de Setembro”, nomeadamente a invasão e a ocupação militar do Iraque, precipitam a crise financeira e o retraimento estratégico dos Estados Unidos, que aceleram a erosão da ordem liberal e a reconstituição da balança tripolar no centro do sistema internacional.
O fim da hegemonia unipolar não pode deixar de pôr em causa a continuidade da ordem liberal, que não garantiu nem a socialização da China, cuja integração na ordem multilateral prejudica a vinculação das instituições internacionais ao primado da lei e aos princípios liberais e não estimula as reformas internas do Estado ou da economia; nem a ancoragem da Rússia na comunidade euro-atlântica, como ficou demonstrado com a anexação da Crimeia e a guerra híbrida na Ucrânia Oriental, que confirmam a sua determinação em desmantelar o sistema de segurança europeu dominado pelas democracias ocidentais.
Os Estados Unidos não têm capacidade para integrar as novas grandes potências na ordem internacional e a ordem liberal não é uma ordem constitucional hegemónica que possa sobreviver sem a tutela da principal potência, não obstante a vinculação permanente da França, da Grã-Bretanha, da Alemanha e da União Europeia como um todo aos princípios, às normas e às instituições que definem a ordem estruturada pela comunidade transatlântica no post-Guerra Fria.
Nesse contexto, a ressurgência nacionalista na política norte-americana pôde impor a sua linha soberanista que valoriza a defesa dos interesses nacionais dos Estados Unidos sem pretender projectar os seus valores como valores universais. O “realismo com princípios” da última administração republicana renunciou ao “excepcionalismo” norte-americano e à missão internacionalista dos Estados Unidos e reconheceu o regresso da competição estratégica entre as potências como a questão central da sua estratégia.
A viragem soberanista representa, bem entendido, uma convergência dos Estados Unidos com a China e com a Rússia – mas também com a Índia, com o Brasil e a maior parte dos Estados, que defendem a ordem westphaliana contra a ordem liberal cosmopolita. Porém, essa concepção agnóstica põe em causa a legitimidade da ordem do post-Guerra Fria e abre caminho para a fragmentação regional da ordem internacional. Com efeito, os Estados Unidos, a Rússia e a China não partilham outros valores além da defesa da soberania do Estado e, nesse sentido, não têm condições políticas para construir um concerto das grandes potências, que exige uma congruência cultural e diplomática ausente da balança tripolar.
A lógica de competição estratégica e ideacional força as três principais potências a estruturar modelos de ordenamento regionais diferenciados para garantir a sua hegemonia nas respectivas esferas de influência e esse processo vai voltar a pôr em causa a homogeneidade e a unidade do sistema internacional.
A Rússia, concentrada na revisão das fronteiras na Comunidade de Estados Independentes (CEI) e na reintegração do espaço post-soviético na União Euroasiática, quer impor um regime misto na estruturação da “Grande Eurásia”. Esse regime combina a entente russo-chinesa com a institucionalização de um sistema de segurança colectiva no quadro da Organização de Cooperação de Xangai (OCS), que inclui não só a Rússia, a China e as antigas Repúblicas soviéticas da Ásia Central, mas também a Índia, o Paquistão e o Afeganistão, e pode vir a ser alargada ao Irão, à Mongólia e à Turquia.
Paralelamente, a diplomacia russa procura redefinir a balança do poder à escala continental, incluindo a Europa Ocidental: a Rússia não tem capacidade para ser o fiel da balança no triângulo estratégico formado por Washington, Pequim e Moscovo, mas pode enquadrar a China na balança euroasiática, ao mesmo tempo que converge com o seu parceiro asiático para excluir os Estados Unidos do espaço comum.
A China tem como prioridade impor a sua hegemonia na Ásia Oriental, o que implica o reconhecimento da sua posição hierárquica tradicional no centro desse espaço regional. Essa estratégia exige neutralizar previamente as alianças dos Estados Unidos com o Japão, a Coreia do Sul ou as Filipinas, assim como a relação especial com Taiwan: a principal potência marítima pode ser uma potência do Pacífico, mas não pode continuar a ser uma potência asiática.
Nesse quadro, a China precisa da parceria estratégica com a Rússia para assegurar a estabilidade no seu hinterland, garantir o acesso à Rota da Seda polar e consolidar a coligação anti-hegemónica, mas não está centrada na estruturação do espaço euroasiático: quem dominar a Ásia Oriental neutraliza as potências continentais rivais na “Grande Eurásia”. A ascensão da China tem uma lógica de competição bipolar com os Estados Unidos e a bipolarização entre a principal potência continental e a principal potência marítima joga a favor da estratégia chinesa de hegemonia asiática.
Os Estados Unidos estão concentrados em reconstituir o seu espaço estratégico nas periferias, nomeadamente a partir das alianças com a Grã-Bretanha e com o Japão – a aliança entre as três potências marítimas é uma referência clássica dos estrategas norte-americanos – e com Israel, que servem para limitar a dominação das potências continentais no espaço euroasiático, para estruturar o domínio dos oceanos contra a convergência entre a China e a Rússia e, sobretudo, para reconstruir a ordem liberal das democracias avançadas no continente americano, na Europa e na Ásia, se estas puderem preservar os valores da liberdade e do direito e se conseguirem manter as vantagens consideráveis nos domínios da inovação científica e tecnológica e da economia que sustentam a sua supremacia estratégica e militar.
Nesse contexto, é possível antecipar um período de relativa estabilidade. Nenhuma das três grandes potências internacionais tem capacidade estratégica para neutralizar as outras duas; nenhuma tem condições políticas para se aliar com outra para anular a terceira; nenhuma quer correr o risco de uma guerra nuclear resultante de um conflito armado bilateral; e nenhuma tem um modelo de ordenamento reconhecido como legítimo pelo conjunto das potências que torne possível a reconstituição de um concerto unipolar – mas todas têm as capacidades, as condições e a motivação indispensáveis para estruturar esferas próprias nos espaços continentais e oceânicos que podem garantir a sua segurança.
A ordem liberal internacional foi superada pelo regresso da anarquia, que é a ordem original própria do sistema de Estados inventado pela Europa e que a sua expansão tornou universal. A restauração da soberania como o princípio de legitimidade da ordem internacional é um retrocesso moral, mas não significa o início de um novo ciclo de guerras hegemónicas.
A balança tripolar ou, mais precisamente, o impasse da divisão tripolar, aliado à dissuasão nuclear, pode limitar os riscos da ascensão aos extremos e garantir uma trégua prolongada – nem guerra, nem paz – entre as três ordens regionais separadas e tuteladas, respectivamente, pelos Estados Unidos, pela China e pela Rússia, num cenário melancólico que evoca a Oceania, a Eastasia e a Eurasia da distopia orwelliana. Mas enquanto não se perder a memória clara do interregno unipolar, da ordem liberal cosmopolita e da globalização, os homens e as mulheres de boa vontade podem continuar a ter esperança num mundo melhor.
O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.