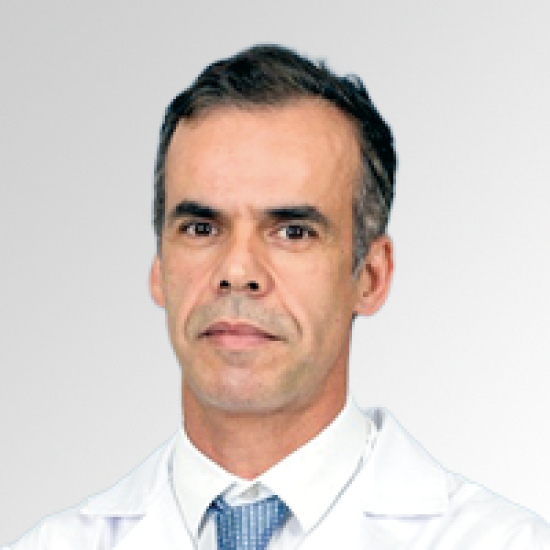“It’s the end of the world as we know it and I feel fine”, REM, 1987
O mundo está perigoso, como costumava dizer o proverbialmente cético Vasco Pulido Valente, parafraseando um outro colunista também conhecido pelo seu pessimismo, Victor Cunha Rego. Mas estará o mundo realmente mais perigoso do que já foi no passado? Será que as profecias sobre o fim dos tempos se vão finalmente concretizar e, como o diabo no oráculo bíblico, a Humanidade acabará lançada viva no “lago de fogo que arde com enxofre” (Apocalipse 20:10)? Ou “ainda não é o fim nem o princípio do mundo. Calma, é apenas um pouco tarde”, como recomendava Manuel António Pina?
A mundivisão apocalíptica tem origem na tradição judaico-cristã, na qual estão muito presentes conceitos como a ressurreição, o dia do Juízo Final, o céu, o inferno e o purgatório. Apocalipse significa “revelação” e, conforme o livro homónimo do Novo Testamento, tratou-se do anúncio do fim dos tempos transmitido por Deus a São João Evangelista. Por isso, ainda hoje o termo apocalipse é usado para descrever o ocaso da civilização humana e do planeta Terra.
Curiosamente, o Livro do Apocalipse procura trazer esperança e infundir coragem aos que creem em Deus. Mas, por ser escrito numa linguagem eminentemente simbólica e elíptica, deu azo a inúmeras interpretações pelas diferentes correntes cristãs e alimentou as mais mirabolantes e tremendistas teorias sobre o fim do mundo. Ao longo da História, uma colorida mistura de fé, superstição, charlatanismo, medo e sofrimento concorreu para a popularidade das visões apocalípticas do futuro, sobretudo em períodos de crise (guerras, totalitarismos, fome e carestia, perseguições políticas e religiosas, recessão económica, etc.).
Misticismos à parte, a História da Humanidade é um verdadeiro cortejo de horrores. Conflitos, genocídios, violência, crimes, escravatura, opressão… enfim, a barbárie em todo o seu esplendor. Na sua colossal obra “O Mundo”, o historiador Simon Sebag Montefiore diz-nos que as “matérias negras da História” são “motores de mudança”. Ou seja, os períodos de crise que os povos viveram desde a pré-história até aos dias de hoje não anunciaram o fim do mundo, mas sim transformações importantes nesse mesmo mundo. Foram catalisadores do progresso da Humanidade, apesar da dor e infelicidade que lhes são inerentes.
Distopias do entretenimento
O ambiente social, cultural e ideológico que hoje vivemos presta-se à perfilhação e divulgação de visões apocalípticas do futuro. Basta atentar na preferência que a indústria de entretenimento tem dado a obras de pendor místico, espiritual, conspirativo ou distópico. Séries televisivas como The Last of Us, The Handmaid’s Tale, Black Mirror, The Leftovers ou The Walking Dead conhecem um sucesso formidável, sendo vistas por milhões de pessoas em todo o mundo. Estas produções audiovisuais captam com particular acuidade a atmosfera apocalíptica que perpassa as sociedades contemporâneas, em resultado de medos coletivos de diferente índole, uns mais palpáveis do que outros.
Na verdade, há boas razões para este medo apocalíptico. Em 2024, o mundo foi dilacerado por 56 conflitos, envolvendo um total de 92 países. E muitas outras nações, embora não estivessem em guerra declarada, viveram um quotidiano de extrema violência e sofrimento, como o Haiti ou o Ruanda. Existe, além disso, o risco de os conflitos em curso adquirirem uma dimensão regional, como o de Gaza, ou mesmo mundial, como a guerra na Ucrânia. Sobre esta pende igualmente a ameaça russa de uma escalada nuclear, o que nos remete para o temor atómico vivido durante a Guerra Fria.
De resto, o Relógio do Apocalipse está a 89 segundos da meia-noite. Isto significa que, segundo o barómetro da revista Bulletin of the Atomic Scientists, a Humanidade nunca esteve tão próximo de se autodestruir nos últimos 78 anos. A meia-noite representa a extinção do mundo tal como o conhecemos, devido a um conjunto de ameaças globais que se têm vindo a agravar. Entre essas ameaças, está naturalmente a crise climática, que impende sobre nós como a “Espada de Dâmocles”.
Importa lembrar que 2024 foi o ano mais quente de que há registo, com a temperatura global a subir 1,6 graus. Foi assim ultrapassada a barreira dos 1,5 graus em relação à época pré-industrial, que o Acordo de Paris para o clima tinha estabelecido como patamar a não atravessar. Ora, os efeitos das alterações climáticas podem ser entendidos como um prenúncio do apocalipse: catástrofes naturais e eventos meteorológicos extremos; secas prolongadas e ondas de calor frequentes; precipitação intensa e inesperada; aquecimento dos oceanos, degelo dos glaciares e consequente subida do nível do mar; perda de biodiversidade, propagação de doenças e escassez de água e alimentos em várias zonas do globo.
O efeito disruptor de Trump
Este cenário sombrio tende a tornar-se mais plúmbeo com a crescente indiferença política e social em relação à crise climática. A saída da maior potência económica, os EUA, dos Acordos de Paris está a afrouxar os esforços da Humanidade para travar as alterações climáticas e mitigar os seus efeitos sobre o planeta. De uma forma geral, a tensão geopolítica levou os diferentes blocos regionais e países industrializados a subalternizarem o clima face a outras questões candentes, como a defesa e segurança, as migrações ou a guerra comercial.
Sim, o mundo tem de facto muito com que se preocupar, para além da crise climática. Os primeiros 100 dias de Donald Trump no seu regresso à Casa Branca foram um foco de instabilidade, incerteza, discórdia e caos. A Administração norte-americana provocou a maior destruição de valor da economia mundial no espaço de sete dias, com a aplicação desabrida e insensata de taxas aduaneiras a 180 países, ainda que parcialmente suspensas a posteriori. Mas o mal estava feito e, mesmo que a pulsão tarifária conheça novo retrocesso, espera-nos uma ordem económica mais protecionista, baseada no poder e na força dos países.
O crescimento mundial será por isso menos vigoroso, o comércio internacional menos livre, as economias menos abertas e as cadeias de abastecimento menos eficientes. Tudo isto tenderá a agravar os preços de energia, matérias-primas, bens e serviços e, consequentemente, a elevar a inflação e o custo de vida.
Há, portanto, fundados motivos para sermos céticos em relação ao curso do mundo. Ao Expresso, Amin Maalouf sintetiza na perfeição o sentimento atual: “O que se passa hoje é assustador e fascinante.” O escritor libanês rejeita, no entanto, a ideia de que estamos a voltar aos anos 30 do século passado, como a recente ascensão do autoritarismo populista e nativista poderia fazer crer. O tempo de hoje não é comparável a nenhum outro, mercê da omnipresença tecnológica nas nossas vidas e das vertiginosas transformações impulsionadas pelo desenvolvimento tecnocientífico.
Aliás, Maalouf faz notar que “a História é, em grande medida, impulsionada pela aceleração da tecnologia e da ciência. Agora, essa aceleração atingiu um novo e inesperado patamar. Basta assinalar o poder dos líderes tecnológicos nos EUA, por exemplo, enquanto aspeto esclarecedor sobre as alterações que a ciência e a inteligência artificial estão a imprimir. As coisas acontecem demasiado depressa, e processos que costumavam levar séculos estão a ocorrer em poucos anos. Em vez de defender que o mundo de ontem era melhor, temos de compreender aquele em que vivemos hoje. Mesmo que não o apreciemos muito.” (in Expresso de 11 de abril de 2025).
Esta também me parece ser a atitude correta. Mais do que estarmos preocupados em preparar kits de sobrevivência, como recomenda a Comissão Europeia, interessa termos consciência de que entrámos numa nova era e de que recuperar o mundo antigo é um esforço tão inglório quanto o de Sísifo. Vislumbrar o futuro por entre o espesso nevoeiro da mudança parece difícil, pelo que devemos, em primeiro lugar, tentar o compreender o presente e procurar encontrar, enquanto sociedade, causas que nos unam e que restabeleçam níveis de confiança básicos entre povos e Estados.
A democracia é uma dessas causas, sendo certo que só vamos conseguir preservar os seus valores (liberdade, pluralismo, tolerância, diversidade, equidade, inclusão…) se a Europa for mesmo um projeto vencedor e um farol de dignidade. Ainda que nem todas as potências mundiais sejam democráticas, como é inevitável, tem de haver consensos mínimos em torno de valores que sustentem as relações entre países e blocos regionais. Uma qualquer ordem mundial emergente precisará sempre de um chão comum, por mais exíguo que seja, para garantir segurança e estabilidade. Pela sua história e cultura, é à Europa que se pede maior clarividência para encontrar esse chão comum.