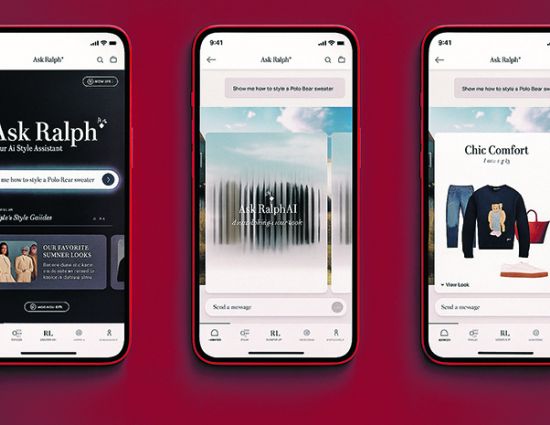Rutger Bregman: “Estamos obcecados pelo trabalho remunerado”

Há quem persiga utopias e se imponha a missão de desconstruir estereótipos. Há também quem prefira manter-se na sua zona de conforto e goste de nutrir o ceticismo. Seria fácil dividir o mundo recorrendo a uma imagem já muito estafada: preto ou branco. Para irmos mais além, para termos o direito de sonhar porque já atingimos o que queríamos, os sonhos têm de ser a cores e a vontade de mudar indomável, e, teremos também de perscrutar a História para reunir dados concretos, científicos, que ajudem à argumentação porque, apesar da narrativa atual dar a entender que não há espaço para utopias, há quem tenha a profunda convicção de que vale a pena mudar mentalidades e criar utopias realizáveis.
Rutger Bregman, historiador, jornalista e pensador é um deles. Em 2014 lançou-se na escrita de “Utopia para Realistas”. Foi um êxito de vendas na Holanda, o seu país natal, e rapidamente foi traduzido para várias línguas. Desencadeou um movimento nacional de apoio ao rendimento básico incondicional que fez manchetes um pouco por toda a Europa e colocou o tema na ordem do dia. Não é vulgar um autor de 29 anos conseguir tal proeza. O rigor histórico e os ideais nem sempre andam de mão dada, mas foge ao discurso óbvio e recusa-se a cristalizar o seu pensamento, convicto de que “o progresso é a realização de Utopias”. Não, não é Bregman quem o diz, mas sim Oscar Wilde, o que, para o caso, não faz muita diferença.
Poderíamos recuar no tempo, uns 500 anos por exemplo, e falar da “Utopia” de Thomas More, onde o navegador Rafael Hitlodeu diz ao arcebispo da Cantuária que seria mais eficaz garantir um rendimento mínimo aos pobres para combater os roubos do que sentenciar os ladrões à morte. Ou recuar tão-só a 1929, quando, na sequência do choque provocado pela “terça-feira negra”, o economista britânico John Maynard Keynes escreveu um artigo contra o pessimismo e a descrença generalizada na época. O título era especialmente sugestivo, “Possibilidades económicas para os nossos netos”, e falava numa “doença nova”: o desemprego tecnológico. Apesar disso, o ser humano mostrava-se capaz de multiplicar a riqueza, pelo que Keynes acreditava que, em 2030, o capital teria aumentado “sete vezes e meia” e que ninguém teria de trabalhar mais do que “15 horas por semana”. Neste cenário, era expectável pensar que os netos da sua geração viessem a viver muito melhor do que os seus avós. Uma discussão antiga, portanto.
É verdade que ainda falta mais de uma década para o novo mundo preconizado por Keynes, mas também é verdade que o mundo continua extremamente desigual. Daí a pertinência desta conversa com Rutger Bregman em torno das propostas que defende no seu livro,editado em Portugal pela Bertrand.
A narrativa atual diz que temos de trabalhar mais e aumentar a produtividade, que é preciso cortar no Estado Social, que a imigração está descontrolada e que temos de reforçar as fronteiras… No seu livro defende o rendimento básico incondicional, a livre circulação de pessoas e uma semana de trabalho de 15 horas. Comecemos pelo rendimento básico incondicional (RBI): é uma forma de garantir um rendimento mínimo para todos ou trata-se de um mecanismo que visa diminuir o diferencial de rendimento?
Pode ser ambas. Em minha opinião, devíamos começar por instituir um rendimento básico incondicional (RBI). É uma ideia muito simples e que abarca todas as pessoas que estejam abaixo do limiar de pobreza, pois assim deixará de haver pobreza. É um direito e não um favor – é incondicional. Isto é o mais importante.
Como pode ser financiado?
O RBI pode ser financiado de diferentes formas, entre as quais impostos sobre o consumo ou sobre a propriedade, o que, obviamente, varia de país para país. Mas penso que o mais importante, sobretudo em países onde o diferencial de rendimento tem vindo a acentuar-se, ajudaria a reduzir a desigualdade. E os mais ricos têm um papel a desempenhar nesta questão, têm de pagar por isso, até porque, no longo prazo, todos irão beneficiar com esta política [RBI]. Toda a gente, incluindo os mais ricos, vão beneficiar com uma sociedade em que o sistema de saúde é menos sobrecarregado – menos doenças – e em que as crianças tendem a obter melhores resultados escolares. No curto prazo implica um grande investimento, mas todos sairão a ganhar no longo prazo e os mais ricos devem contribuir para que isso aconteça. É uma política win-win, ou seja, todos ganham.
A política de aumento de impostos sobre os mais ricos tem sido um fracasso, entre outras razões porque são também os que melhor protegem o seu dinheiro. Basta pensar nos offshores, nos benefícios fiscais que alguns países oferecem…
Antes de mais, não podemos dar-nos ao luxo de perder a ‘fé’ na Europa. Mas a verdade é que temos muitas razões para estar zangados com a Europa, especialmente desde a recente crise económico-financeira e com tudo o que aconteceu e que afetou gravemente países como a Grécia, Itália, Portugal, Espanha… Falo por mim, pois senti-me muito, muito revoltado. Mas também estou ciente de que nas questões ligadas à proteção do ambiente e aos paraísos fiscais, por exemplo, precisamos de trabalhar em conjunto para encontrar soluções. Quando digo em conjunto refiro-me a nível europeu. Se a Europa disser “basta” à Holanda, ao Luxemburgo, às Bermudas… a evasão fiscal vai acabar. É uma questão de vontade política. Não podemos esconder-nos atrás de muros. No caso do Brexit, por exemplo, os milionários e multimilionários estão literalmente a esfregar as mãos, porque vão ter uma vida mais fácil!
Ainda recentemente a União Europeia criou uma lista negra de países com paraísos fiscais que não cumprem as regras de Bruxelas nesta matéria. Há pressão política, mas não no sentido de acabar com os paraísos fiscais.
Digamos que há uma espécie de regra: sempre que iniciamos um debate público sobre uma dada questão – racismo, evasão fiscal, etc. -, tendemos a pensar, num primeiro momento, que as coisas estão a correr mal, que não há solução e por aí diante. Mas só pelo facto de começarmos a debater uma dada questão já estamos a contribuir para alguma melhoria. Há uns dez anos praticamente não se discutia a questão da evasão fiscal. Hoje em dia fala-se muito e até a OCDE, o clube dos países ricos, tem um programa para combater a evasão fiscal. As coisas estão a melhorar.
Os pequenos passos podem fazer a diferença, é isso?
Sim, os pequenos passos são importantes e o facto de debatermos certas questões com frequência é sinal de estamos no caminho certo. É uma janela de oportunidades que se abre para contribuir para a mudança, mas muitos jornalistas, leitores, espetadores de televisão não se apercebem disso.
No seu livro cita alguns exemplos de projetos que foram testados com êxito e ocultados da opinião pública, como a experiência levada a cabo em Dauphin, uma pequena cidade no Canadá, em 1974, que durou quatro anos e acabou por ser suspensa por um governo conservador. Neste caso, não só a população passou a ter mais rendimentos como maiores níveis de literacia, além da saúde dos seus habitantes ter melhorado. E, no final, as pessoas não desistiram dos seus empregos. Atualmente estão a ser feitas experiências em pequena escala na Holanda e na Finlândia…
Uma das ideias centrais no meu livro é que as “ideias são importantes”. Não é só o dinheiro ou as pessoas com poder que comandam o mundo, as ideias também contam. Muitas vezes, as ideias partem das pessoas que não tem poder ou que têm pouco poder. Dou um exemplo: as mulheres sufragistas eram as que tinham mais dinheiro? Não. Eram o grupo social que tinha mais poder? Não. Mas a sua causa teve êxito porque era uma ideia extremamente poderosa. Quero pensar que isso pode acontecer com algumas das ideias que defendo no meu livro. E o mais encorajador tem sido, precisamente, as pequenas experiências que nasceram na sequência deste livro. Uma senhora holandesa que leu o livro e gostou ofereceu-o ao filho que, por sua vez, o passou a um amigo, que depois o emprestou a outro amigo, etc., etc. Mais ou menos um ano depois, o livro foi parar às mãos de um homem com ascendência holandesa que vive no Canadá, em Vancouver, que falou nele a uma amiga, que então comprou a versão inglesa. Ficou muito sensibilizada com uma experiência que menciono, que envolveu 13 sem-abrigo na cidade de Londres, a quem foram dadas três mil libras em dinheiro para gerirem a sua vida.
Detalha esse exemplo no livro, mas pode sintetizar o resultado dessa experiência?
Um ano depois da experiência arrancar, sete dos 13 sem-abrigo tinham um teto. Os outros estavam prestes a mudar-se para o seu próprio apartamento. Todos tinham dado passos cruciais para a sua solvência e crescimento pessoal. Quanto custou? Cerca de 50 mil libras [56.500€] por ano, incluindo os salários dos assistentes sociais. Antes, entre despesas de policiamento, tribunais e serviços sociais, estima-se que a sua ‘conta’ ascendesse a 400 mil libras ou mais. E essa mulher de Vancouver ficou a pensar que seria importante haver mais iniciativas destas, incluindo dirigidas a pessoas como ela, que tinha um emprego de que não gostava, um trabalho que achava inútil. Depois de ler o livro, decidiu despedir-se e criar uma ONG cuja missão seria dar dinheiro aos sem-abrigo de Vancouver para começarem uma nova vida. E assim foi! Há uns meses fui convidado para participar numa TED Talk em Vancouver e conhecemo-nos pessoalmente. A ONG tinha recebido meio milhão de dólares do Governo para arrancar com o projeto, que inclui um estudo comportamental dos visados. Este é apenas um exemplo de como as ideias podem mudar o mundo.
Recebeu apenas ajuda financeira do Governo ou teve outras fontes de financiamento, como crowdsourcing, doadores particulares…?
Apenas apoio financeiro do Governo, e um montante bastante generoso, pelo que é muito provável que obtenha melhores resultados que a experiência feita em Londres. Mas insisto: as pessoas não ouvem falar nos exemplos bem-sucedidos e por isso desconhecem o efeito que as ideias podem ter na realidade, no quotidiano.
Esse projeto já está em curso?
Não sei pormenores, mas pode consultar online. Chama-se “New Leaf Project”. Mas este é apenas um exemplo.
Diz que muitos dos empregos que “existem hoje são efémeros, criam pouco ou nenhum valor e apenas contribuem para que as pessoas que fazem um determinado tipo de trabalho se sintam frustradas”.
Acho que é essencial começar por fazer perguntas elementares, quase filosóficas. O que é o trabalho? O que é a riqueza? O que é o progresso? O que é o crescimento [económico]? Podemos começar por perguntar às pessoas que tipo de trabalho vale realmente a pena e pode ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Há vários estudos sobre isso e vou citar um levado a cabo no Reino Unido, que mostra que 37% da população ativa britânica afirma que o seu emprego podia perfeitamente não existir. Quem o diz não são os empregados da Câmara que recolhem o lixo, nem os professores nem os técnicos de saúde, mas sim consultores, bancários, advogados, contabilistas, etc. Achei que era uma percentagem muito elevada até ter visto os números relativos à Holanda: 40% de profissionais dessas áreas acham o seu emprego detestável e dispensável. Não o dizem em público, mas admitem-no em privado. Muitos entram em depressão aos 40 ou 50 anos, e começam a fazer outra coisa.
A solução passa por erradicar essas profissões?
Não é caricato pagarmos milhares de milhões de euros para educar os jovens para depois, quando entram na vida ativa, acharem os seus empregos absolutamente inúteis…!?
Em junho de 2016, os suíços rejeitaram, em referendo, a criação de um Rendimento Básico Incondicional. Apesar do ‘não’ ter vencido, podemos dizer que é um passo no sentido da mudança?
O ‘não’ venceu, mas foi uma grande vitória para o RBI, porque suscitou muito debate e gerou imensa ‘publicidade’ em torno do tema. Convém não esquecermos que, nos anos 50, os suíços também votaram contra uma ideia “perfeitamente absurda”: o direito de voto para as mulheres.
Sim, em 1959 o ‘não’ venceu, mas a maioria dos suíços votou ‘sim’ num segundo referendo, em 1971. Isto entronca na referência que faz no livro à janela de Overton: “uma sociedade pode mudar por completo apenas em algumas décadas. A janela de Overton pode deslocar-se. Uma estratégia clássica para o conseguir é proclamar ideias tão chocantes e subversivas que qualquer coisa menos radical de repente parece razoável”. Dito por outras palavras, para que o radical seja razoável, basta alargar os limites do radical.
A História tem-nos ensinado que os principais marcos da civilização – como a abolição da escravatura,a democracia, a igualdade entre homens e mulheres e o Estado Providência – foram vistos como pura loucura. As primeiras pessoas a propor tal caminho foram sempre rotuladas de loucas por defenderem ideias insensatas. Ideias essas que ganharam forma nas franjas da sociedade para depois, paulatinamente, começarem a aproximar-se do centro. Penso que esse deve ser o objetivo de qualquer intelectual: transformar o insensato em sensato, o implausível em plausível. No fundo, tornar a utopia uma realidade.
Enquanto cidadão e jornalista, como vê o tratamento que os media têm dado à questão do RBI?
É frequente perguntarem-me “o que posso fazer”? E eu respondo que a primeira coisa a fazer é atirar o televisor pela janela. É uma excelente maneira de começar a mudar algo. Isto aplica-se ao jornalismo televisivo, mas também a outras formas de jornalismo. Quando alguém tem uma ideia nova precisa de tempo para explicá-la. Acontece que estamos a assistir a um processo no jornalismo – a que o grande linguista Noam Chomsky chamou “concisão” -, em que todos os debates que ocorrem na rádio, na televisão estão sujeitos à ditadura do tempo: muitas vezes, uma pessoa não tem mais de 3, 4, 5 minutos para expor uma ideia. E a única coisa que se pode fazer é dizer aquilo em que as pessoas já acreditam! Não é possível fazê-las mudar de ideias, pensar noutras perspetivas, abordagens… Quando dou entrevistas de uma hora, fico com a sensação de que, no final da conversa, as pessoas começam a perceber o meu ponto de vista. Daí achar que os livros continuam a ter um papel extremamente importante. Só assim podemos expor e estruturar argumentos.
Propõe uma semana de trabalho de 15 horas. A redução deve ser gradual?
A ideia da semana de trabalho de 15 horas vai beber a John Maynard Keynes, o economista que previu que isso aconteceria em 2030. Ora, é fascinante pensar por que razão isso não aconteceu. No geral, as pessoas pensam que Keynes era louco, pura e simplesmente. Mas se formos mais longe e estudarmos o que outros economistas, sociólogos e filósofos seus contemporâneos pensavam, constatamos que estavam todos em linha com esse pensamento. Keynes não estava sozinho. Mas sempre fui apologista do gradualismo. Essa redução pode ser gradual. Acho que todos devemos ser revolucionários, em teoria, e pragmáticos quando se trata de passar à prática. O desafio está aí.
Até aos anos 80 do século passado a tendência foi reduzir a semana de trabalho, depois a situação inverteu-se. Na sua opinião, quais são as razões para este retrocesso?
Penso que há várias razões para isso ter acontecido. Uma delas é o consumo: as pessoas compram coisas que não precisam e não são necessariamente mais felizes por isso. Mas diria que a mais importante é a nossa obsessão pelo trabalho remunerado e, em termos políticos, isto aplica-se tanto à esquerda como à direita. Diria até que se aplica mais à esquerda.
É muito crítico em relação à esquerda, em particular na sequência da crise económico-financeira na Europa, por não ter conseguido propor alternativas. Fala inclusive em “socialismo subserviente”.
Costumo dizer que qualquer pessoa, partido, pode apoderar-se de uma nova ideia. O “novo liberalismo” também faz isso e tenta transformar tudo num “produto”, digamos assim. Nos EUA, há quem defenda o fim da educação e saúde públicas e a adoção de um pequeno rendimento básico para todos. Eu não defendo isso! O que eu defendo é que o RBI deve ser um complemento ao Estado Social, enquanto corolário da social-democracia. A minha crítica vai para os mais preguiçosos na esquerda, intelectualmente falando, que preferem ver apenas aquilo que não gostam ou receiam no RBI. Não vão além disso.
A direita não deve também desempenhar um papel na mudança?
Há muita energia utópica no ar, inclusive na direita. O Brexit era uma ideia absurda e acabou por acontecer, tal como a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA. Há quatro, cinco anos ninguém imaginava que tal pudesse acontecer. Se dissesse isso iam rir-se na sua cara. Mas o que quero dizer é que há energia utópica na direita e que a esquerda sabe apenas identificar aquilo a que se opõe.
No médio prazo, perspetiva alguma mudança desencadeada pela esquerda?
Se olharmos para países como a Noruega, Alemanha ou Holanda, há muito que a esquerda diz que é arriscado fazer propostas radicais, porque as pessoas não gostam muito. É melhor aproximarmo-nos do centro… e isso destruiu-os por completo. O Reino Unido, pelo contrário, é um caso fascinante! Jeremy Corbyn, líder dos Trabalhistas, é um ‘produto’ dos anos 70 do século XX que emergiu defendendo que a esquerda não pode ser moderada e tem de apresentar propostas substanciais e mais radicais. Toda a gente disse que ele era louco. Aliás, os media arrasaram Corbyn. E um mês antes das eleições apresentou um manifesto com ideias radicais mas sensatas, e acabou por ter o melhor resultado alguma vez obtido pelos Trabalhistas desde 1946! Em suma, o problema não residia no facto de o partido Trabalhista ser demasiado radical, mas sim no facto de ser pouco radical. Até os jornais mais conotados com a esquerda, como o “The Guardian”, disseram: “isto não vai dar resultado”. É verdade que podemos fazer muitas críticas válidas a Corbyn e àquilo que defende. Diria, aliás, que faz parte do “velho socialismo” e que não defende as ideias que plasmo no meu livro, mas, na sua essência, Corbyn sabe muito bem como funciona a política e que é preciso batalhar para levar por diante novas ideias.
A esquerda preferiu trocar a sua matriz por mais votos nas eleições?
Sim, é o que tem acontecido desde os anos 80. Mas digamos que não faz sentido regressar à década de 1970 e ler os mesmos livros e propor as mesmas coisas em que se acreditava na altura. O que proponho é apresentar novas ideias ou reinventar velhas ideias e adaptá-las ao tempo em que vivemos, como o rendimento básico. É uma ideia antiga, mas precisamos de pensar em versões modernas para o RBI. Um dos slogans do Maio de 68 era precisamente “sê realista, pede o impossível”. Esse devia ser o nosso slogan nos dias que correm.
O terceiro ‘pilar’ do seu livro é a livre circulação de pessoas como ferramenta para combater a pobreza. Cito uma passagem: “abrir as fronteiras não é, obviamente, algo que possamos fazer do dia para a noite – nem deve ser. A migração descontrolada iria corroer a coesão social na Terra da Abundância. Mas é preciso não esquecer uma coisa: num mundo de desigualdades loucas, a migração é o instrumento mais poderoso de combate à pobreza.”
Reconheço que essa é a ideia mais radical que proponho. No caso do RBI, podemos implementá-lo hoje: temos o dinheiro necessário e temos provas científicas. Muito sinceramente, isso devia ter sido feito há 40 anos atrás! A semana de trabalho de 15 horas também pode ser aplicada gradualmente e podemos eliminar os empregos da ‘treta’. É perfeitamente exequível. No caso da abertura de fronteiras, estamos a falar numa perspetiva a longo prazo, mas é igualmente importante. Globalmente, as fronteiras são, de longe, a maior fonte de desigualdade. Cerca de 60% do rendimento de um indivíduo é determinado pela geografia, pelo país onde nasceu. Outros argumentos contra a imigração – os imigrantes são criminosos, terroristas, minam a coesão social, ficam-nos com os empregos, são preguiçosos, etc. – não têm razão de ser. A História ensinou-nos que imigração é uma das ferramentas mais poderosas para combater a pobreza global. Os países mais abertos à imigração são também os mais prósperos. Os EUA são apenas o exemplo mais óbvio e conhecido…
Há outras questões. A Alemanha, por exemplo, é vista como a terra prometida na Europa. Ou a Suécia, que seduz pelo estado social, ou o que resta dele. No caso dos refugiados, Portugal está disposto a receber mais do que aqueles que acolhe, mas simplesmente não fazemos parte do “mapa desejado”.
Desconhecia que é essa a posição de Portugal… Habitualmente sou confrontado com a situação contrária. Quando dou entrevistas no Reino Unido, na Alemanha, França, etc., sou confrontado exatamente com a questão inversa: “o que podemos fazer para travar a imigração?”. Não há dúvida que é importante que Portugal reconheça a necessidade de receber imigrantes, refugiados, tal como fez a chanceler alemã quando anunciou que podiam acolher um milhão de refugiados. Mas, pessoalmente, prefiro invocar factos, números e casos concretos. Creio que as pessoas compreendem e aceitam melhor quando apresentamos provas. Ainda não vivemos nos EUA, por assim dizer. Ainda não estamos tão polarizados como a sociedade americana. Daí ter dedicado um capítulo do meu livro a desmistificar preconceitos, mostrando exemplos concretos de como a maior parte dos imigrantes são empreendedores, contribuem para o bem comum, fazem os seus descontos, etc. Mas há outra coisa que também podemos fazer, que é pensar na linguagem que utilizamos. Pode fazer sentido usar uma linguagem mais patriótica para defender uma maior abertura e tolerância.
Adaptar o discurso a uma linguagem patriótica tem riscos…
Sim, mas vou dar-lhe um exemplo. Angela Merkel, quando anunciou que a Alemanha ia acolher um milhão de refugiados, disse: “nós somos capazes!” No fundo, o que é que ela fez? Deu a entender que “somos alemães e somos bons. Somos melhores que os EUA, não há dúvidas sobre isso. Somos melhores que os britânicos, que os franceses e, claro, melhores que os holandeses. Somos capazes de fazer isto. Eles talvez não consigam fazê-lo, mas nós sim, porque somos alemães. Deixem-nos vir, vamos arranjar trabalho para esses refugiados e vamos garantir que eles contribuem para a sociedade, vai ser um êxito”. É uma abordagem extraordinária: usar uma linguagem patriótica para levar por diante ideias progressistas. Podemos fazer isso em relação às alterações climáticas, ao rendimento básico… ‘Vamos ser o exemplo para os demais países, vamos ter zero emissões até 2030. É uma corrida e nós vamos ganhar’.
Imagino que já tenha sido criticado por também adaptar a sua linguagem em função da audiência no périplo que tem feito para promover o seu livro.
O mais fácil é ficarmos na nossa zona de conforto… É verdade que já fui criticado por académicos de esquerda, que dizem que estou a banalizar o seu pensamento, que vou a Vancouver falar perante uma audiência onde estão Bill Gates e Richard Branson e só faço isto pelo dinheiro, etc., etc. Já ouvi muitas críticas desse género e pensei muito sobre o assunto, mas cheguei a uma conclusão: não quero falar para públicos, pessoas que já concordam com as minhas ideias. O que eu quero é mudar a maneira como as pessoas pensam. Podia perfeitamente ser investigador numa universidade e escrever artigos que ninguém iria ler ou que apenas seriam lidos por aqueles que pensam como eu… Mas não é isso que eu quero. A minha abordagem envolve riscos, sei disso, mas também sei que é importante comunicar com o “inimigo” ou com as pessoas que discordam de mim, tal como é importante estar atento às pessoas à minha volta para que os neoliberais não se apropriem das minhas ideias! [risos]
E tem conseguido fazer com que as pessoas mudem de ideias?
Nos últimos dois anos viajei bastante, em particular para promover o meu livro, e aprendi que as pessoas têm muitas coisas em comum, quer vivam no Japão quer nos EUA, na Holanda ou Portugal, especialmente no que respeita ao trabalho, ao sentido do trabalho, aos empregos inúteis. O mais importante é que o debate está sobre a mesa, pelo menos nos países ricos!
RECOMENDADO
Tagus Park – Edifício Tecnologia 4.1
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, nº 71 a 74
2740-122 – Porto Salvo, Portugal
online@medianove.com