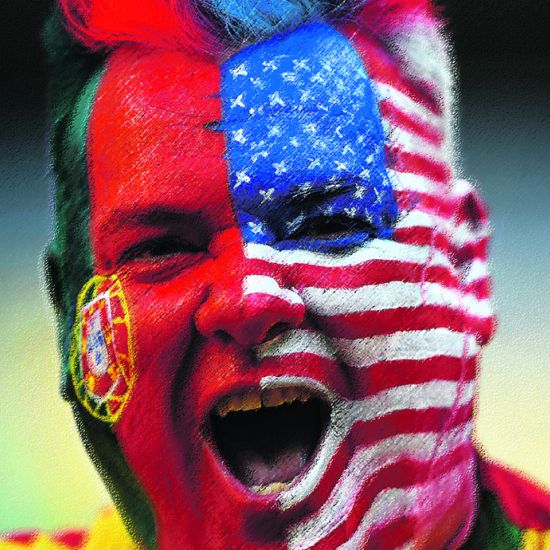Começo por recuar alguns milhares de anos para trazer à memória o conhecido episódio relacionado com o julgamento e a morte de Sócrates. E faço-o para sublinhar antes de tudo a importância do valor da legitimidade em qualquer tipo de regime político, mas sobretudo e essencialmente em democracia.
Por procurar despertar nos seus concidadãos – e, muito em particular, nos jovens – a sede de conhecimento e da procura do que não se sabe, desafiando assim os preconceitos sociais da época, Sócrates (Atenas 469 a.C. – Atenas, 399 a.C.) viria a ser declarado um inimigo da democracia ateniense e um elemento corruptor da juventude. Tanto assim é que, no ano de 399 a.C., um tribunal formado por cidadãos provenientes das dez tribos que compunham a população de Atenas se reuniu para julgar aquele foi um dos principais pensadores atenienses do período clássico da Grécia Antiga e também um dos fundadores da filosofia ocidental.
Temendo algum tipo de mudança na sociedade, a elite mais conservadora de Atenas via em Sócrates um inimigo público e um potencial e perigoso agitador. Pelo que aquele foi preso e acusado não só de subverter a ordem social e corromper a juventude, mas também de questionar a religião politeísta e os cultos gregos.
O filósofo foi acusado por três figuras da sociedade ateniense: Ânito, um rico, poderoso e influente tanoeiro, que representava os interesses dos comerciantes e industriais; Lícon, sobre quem pouco se sabe, que representava os interesses dos oradores e retóricos; e, por último, Meleto, poeta trágico e desconhecido, que, na qualidade de acusador principal, representava os poetas e adivinhos. A sentença proferida por estes três acusadores foi a seguinte: “Sócrates (…) é culpado do crime de não reconhecer os deuses legitimados pelo Estado e de introduzir novas divindades; Sócrates é ainda culpado de corromper a juventude. Castigo pedido: a morte.1”
Tendo-lhe sido dada a hipótese de se defender destas acusações, Sócrates procurou, através da sua sapiência e dons de oratória, mostrar como tais incriminações eram contraditórias, indagando: “Como poderei eu não acreditar nos deuses e ao mesmo tempo unir-me a eles?2” Ao dirigir-se aos atenienses que o julgaram, disse-lhes que estava grato e que os amava, mas que obedeceria antes aos deuses e não a eles. Enquanto tivesse um sopro de vida, poderiam estar seguros de que não deixaria de filosofar, tendo, pois, como única preocupação, andar pelas ruas a fim de persuadir os seus concidadãos, velhos e novos, a não se preocuparem nem com o corpo nem com a fortuna tão apaixonadamente, mas antes com a alma, a fim de torná-la tão boa quanto possível.
Não obstante a acuidade dos seus argumentos, Sócrates seria condenado pelos seus concidadãos ao exílio perpétuo ou, em alternativa, ser-lhe-ia cortada a língua. Alegando que aqueles que o julgavam não lhe deixavam qualquer tipo de escolha, preferiu a morte e o desconhecido, a viver sem poder transmitir aos demais os seus conhecimentos.
Sócrates deixou então o tribunal e foi para a prisão. Como existia uma lei que exigia que nenhuma execução acontecesse durante a viagem votiva de um navio sagrado a Delos, ficou preso durante 30 dias, sob custódia de onze magistrados encarregados em Atenas da polícia e administração penitenciária. Durante estes 30 dias, Sócrates recebeu os seus amigos e conversou com todos eles. Nada mais fez durante esse período senão tranquilizá-los, recusando sempre que o chamassem de mestre e argumentando a favor da imortalidade da alma.
Sócrates tinha amigos fiéis, homens que compreendiam o absurdo e a injustiça daquela sentença. Crito, por exemplo, tentou convencê-lo a fugir da prisão, preparando-lhe inclusivamente a fuga. Mas, perante os planos do amigo, Sócrates disse-lhe: “Eu fui julgado por um tribunal representativo. Ainda que a minha condenação seja uma decisão errada, ela vem de uma assembleia legítima e deve ser obedecida. Se os homens bons não respeitarem as leis más, os homens maus não respeitarão as leis boas3”. E, recusando renunciar às suas convicções, Sócrates preferiu a morte a ter de corromper a alma. Assim, diante dos seus amigos, Sócrates bebeu a cicuta e, aos 70 anos, morreu de envenenamento.
Se começamos o presente miniensaio evocando o julgamento de Sócrates não é para sublinhar os perigos que a ignorância traz ao saber, ou tão-pouco as ameaças que o mal traz à virtude, mas antes para demonstrar como as palavras de Sócrates, em resposta às propostas de fuga que lhe são feitas pelos seus incansáveis e dedicados amigos, encerram em si um claro e eloquente entendimento do que é a legitimidade do poder político tal como hoje a percebemos num regime democrático.
E tal como a entendeu também, muito mais tarde, o eminente sociólogo Max Weber, quando na sua obra maior (e póstuma), “Economia e Sociedade. Uma Sociologia Compreensiva” (1920) , se lhe refere como a “capacidade de um determinado poder conseguir obediência sem necessidade de recorrer à coerção, que supõe a ameaça do uso da força”, de tal forma que um Estado é legítimo se existe um consenso entre os membros da comunidade política para aceitar a autoridade vigente.
Sócrates, ao considerar a sua sentença injusta, mas ainda assim legítima, mais não faz do que salientar a importância de o poder daqueles que o julgam, e o sentenciam à morte, assentar no reconhecimento por parte dos atenienses das leis vigentes na cidade-Estado, pressupondo, como tal, a sua obediência consentida. A mesmíssima ideia é traduzida por Weber ao referir-se aos tipos de legitimidade política e, muito em particular, à legitimidade nos Estados modernos.
Decorre daqui que a Ciência Política contemporânea continua a ter entre as suas principais preocupações o estudo da legitimidade do poder político e dos seus principais fundamentos. Fala-se, assim, de legitimidade dos regimes democráticos sempre que está em causa a crença generalizada dos cidadãos na validade dos valores, princípios, normas e práticas estruturantes do Estado de Direito Democrático, os quais determinam a forma como o povo exerce o seu poder soberano através da eleição indireta dos seus representantes, adotando-se, ora uma definição maximalista ou substantiva de democracia – atenta aos ideais teórica e factualmente inconciliáveis, e por isso paradoxais, da igualdade e liberdade e às suas múltiplas e distintas conceções –, ora uma definição minimalista ou procedimental de democracia, atendendo fundamentalmente a um conjunto de normas, procedimentos e instituições que asseguram a transposição do ideal democrático para o plano dos factos.
Dada a pluralidade de democracias existentes, resultantes das sucessivas vagas de democratização (Samuel Huntington, 1993), o que está hoje em causa na agenda da Ciência Política vai muito além do reconhecimento da importância da legitimidade política em termos meramente formais, procurando-se antes aferir – e até mensurar –em que medida as democracias contemporâneas não só asseguram a tradução prática e efetiva dos valores, das normas e do funcionamento das instituições próprias do Estado de Direito Democrático – entendidas como the only game in town –, mas saber também se as democracias existentes podem ou não ser classificadas como “democracias de qualidade” ou “boas democracias” (Leonardo Morlino). Ou o que é mais preocupante e até instante: se em vez da afirmação e sustentabilidade da democracia tal como a conhecemos, devemos assumir atualmente a sua progressiva erosão ou retrocesso. A este debate voltaremos adiante.
Mas falar da qualidade da democracia, sobretudo por vício pedagógico de quem tem na Academia a sua vocação e profissão, torna-se impossível sem procurar responder à inevitável pergunta ontológica, a saber: o que é a democracia?
- O que é a democracia?
Definição maximalista versus definição minimalista
Ora, esta questão impõe-nos uma primeira advertência, a de que o conceito de democracia é um conceito essencialmente polissémico e eminentemente contestável.
Dito isto, tem sido tradição no âmbito da Ciência Política a discussão sobre o que é a democracia se fazer em torno de dois conceitos: o conceito maximalista ou substantivo da democracia e o conceito minimalista ou procedimental da democracia.
Definir a democracia em geral, aproxima-a do seu significado etimológico de “governo do povo” ou do “poder do povo” (demos = povo, Kracia = poder, governo), o qual foi reformulado e enriquecido com a famosa expressão cunhada por Abraham Lincoln: “poder do povo, pelo povo e para o povo”, no sentido de que o poder deriva do povo, pertence ao povo e deve ser exercido pelo povo.
A relação entre a Ciência Política e a noção de democracia é hoje marcada pelo distanciamento face à sua definição etimológica (isto é, o governo pelo povo) e a pela sua estreita convergência face à ideia da democracia entendida enquanto governo exercido pelos eleitos do povo em nome do povo, ou seja, enquanto democracia representativa de massas. E tal assim é devido às profundas transformações sofridas pela democracia ao longo da história, tanto ao nível dos ideais como das instituições políticas que a suportam e materializam.
A primeira transformação da democracia corresponde à superação dos limites da democracia, tal como praticada na Grécia Antiga, em virtude dos ganhos de escala impostos pelo surgimento dos Estados nacionais (Robert Dahl). A democracia grega era inerentemente limitada aos sistemas de pequena escala, conhecidos nessa altura como cidades-Estado ou poleis, que se consolidaram já no final do período Arcaico.
Essa organização autónoma que era a pólis foi absolutamente fundamental para a organização política e social dos gregos, tendo culminado na génese daquilo que chamamos de democracia. Embora o problema de escala proporcionasse vantagens, como a da participação direta de todos os cidadãos ativos, o facto é que não era possível estender o domínio das leis além dos limites de uma pequena cidade-Estado.
Por outro lado, um outro problema da democracia ateniense, que constitui o exemplo mais emblemático da “democracia dos antigos”, era a sua pouca inclusividade. Não obstante fosse assegurada a participação direta aos cidadãos atenienses, a democracia grega era exclusiva e exclusivista. No aspeto interno, a exclusão traduzia-se no facto de a participação nos assuntos da polis ser apenas admitida a uma pequena parte da população adulta, não sendo esta possível às mulheres, escravos e estrangeiros (conhecidos por metecos).
Só participavam da democracia os cidadãos filhos de pai e mãe grega. No aspeto externo, a exclusão era ditada pela ausência de democracia fora da pólis, tendo em vista que as relações externas não ocorriam em bases democráticas. Fora da pólis, o que vigorava era o modelo de natureza hobbesiano (ou seja, “o homem como o lobo do homem”. Donde, a democracia ateniense não era para todos os cidadãos; sendo limitada, excludente e elitista. Estima-se que somente 10% da população desfrutava dos direitos democráticos.
Seja como for, é na “democracia dos antigos” – e, muito em particular, na democracia ateniense do século V a.C. – que radica a noção maximalista e substantiva da democracia enquanto autogoverno popular. Uma noção que viria a ter em Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) um dos seus principais e mais intransigentes defensores; em claro contrataste com a valoração que, tanto Platão como Aristóteles, fizeram da democracia entendida como “governo do povo”.
Com efeito, no debate travado entre os grandes pensadores da Antiguidade Clássica em torno da melhor forma de governo, a democracia foi quase sempre colocada em último lugar, exatamente em razão do poder político ser exercido pelo povo (ou pela massa), ao qual foram habitualmente atribuídos os piores vícios da licenciosidade, do desregramento, da ignorância, da incompetência, da insensatez, da agressividade e da intolerância.
Seja como for, caberia a Jean-Jacques Rousseau, muito séculos depois, fazer a defesa da democracia entendida enquanto autogoverno popular. Como escreve no seu “Contrato Social” (1762), num Estado republicano, a soberania pertence ao povo e não pode ser alienada. Por outras palavras, o poder legislativo, num Estado legítimo, somente pode ser exercido pelo povo, único detentor do poder soberano, uma vez que somente a lei ratificada por este pode ser entendida como a expressão da vontade geral. Para o genebrino, a vontade geral, identificada com o poder soberano do povo, não pode ser representada. Nesse caso, não é a vontade geral que o governante representa: ele age no lugar do povo, mas a sua vontade não toma o lugar da vontade geral. A quem deve, então, o povo obedecer?
A si mesmo, responde Rousseau! Correspondendo ao enunciado da vontade geral e, consequentemente, pertencendo ao interesse público, as leis devem estar acima dos interesses particulares. Quando o contrário acontece, os abusos resultantes culminam na sociedade corrompida, da qual Rousseau deseja afastar-se.
Deixando por ora a dimensão axiológica, e regressando novamente ao plano descritivo, falemos então da segunda grande transformação da democracia, que tem lugar no decurso do século XIX com a aplicação da ideia de democracia ao Estado nacional e com o aparecimento das instituições e crenças inerentes à democracia representativa – ou, também, e na expressão feliz de Moses Finley, a “democracia dos modernos”.
De facto, tanto a ideia como a experiência da democracia direta, tais como como praticadas na Grécia Antiga – e, muito em particular na Atenas do século V a.C. –, são substituídas pela afirmação do parlamento e dos representantes eleitos do povo; passando, este, a ser entendido não já como um corpo único cuja vontade é anterior e superior às partes que o compõem (conceção organicista), mas antes como um conjunto de indivíduos distintos do todo a que pertencem, reunindo-se em função de objetivos comuns que, singularmente, seriam impossíveis de ser alcançados. Na “democracia dos modernos”, o soberano não é o povo, mas são todos os cidadãos. A democracia moderna repousa, pois, numa conceção individualista da sociedade.
Que fique assim claro que a substituição da democracia direta pela democracia representativa se deveu a uma questão de facto, nomeadamente à transição das cidades-Estado para os grandes Estados nacionais. O próprio Rousseau, embora tivesse feito o elogio da democracia direta, reconheceu que uma das razões pela qual esta jamais existiu, ou existirá, reside precisamente no facto de exigir um Estado muito pequeno, no qual seja fácil o povo reunir-se em assembleia e no qual o cidadão possa facilmente conhecer todos os outros.
A democracia direta funcionou apenas em unidades políticas de pequena dimensão territorial, regida pelo princípio da soberania popular, sendo os cidadãos uma pequena minoria da população da cidade-Estado, ou pólis. Por outro lado, o distinto juízo sobre a democracia como forma de governo implicou uma questão de princípio, que passou por dissociá-la da sua referência a um corpo coletivo como o demos, entendido em sentido pejorativo sempre confundido com o “vulgo”, a “plebe”, a “massa”.
A democracia moderna aparecesse assim associada não já à ideia de participação direta do povo, mas antes à ideia de representação política assente na escolha dos representantes do povo através de eleições – baseadas, primeiro, no direito de sufrágio restrito, limitado e censitário, como aconteceu nas democracias parlamentares oitocentistas; e, posteriormente, no seu progressivo alargamento e universalização aquando da entrada das massas no palco da história.
Quando descrevemos o processo de democratização ocorrido ao longo do século XIX nos diferentes países que hoje chamamos democráticos, referimo-nos à ampliação progressiva, mais rápida ou mais lenta segundo os diferentes países, do direito de poder eleger os representantes (capacidade de sufrágio ativo) e o direito de poder ser eleito para cargos público eletivos (capacidade de sufrágio passivo). A escolha daqueles que exercem o poder em nome do povo, o titular formal da soberania, torna-se, desta forma, central nas definições minimalistas da democracia, que veem nesta escolha o modus procedendi a partir do qual determinados indivíduos obtêm o poder mediante uma competição cujo objeto é o voto popular.
Neste sentido, Joseph Schumpeter, na sua obra “Capitalismo, Socialismo e Democracia” (1942) , partindo da crítica da doutrina clássica da democracia, centrada nos conceitos de bem comum, vontade popular e governo do povo, descreve a democracia muito simplesmente como um “método competitivo” através do qual se faz a escolha dos governos entre as elites disponíveis. Ou seja: a democracia mais não é, em seu entender, do que um método ou arranjo institucional através do qual certos indivíduos adquirem o poder de decidir politicamente mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor.
Contudo, a ênfase minimalista de Schumpeter é vulnerável ao que outros autores classificaram como “falácia eleitoralista”, isto é, a tendência de se privilegiar as eleições sobre outras dimensões da democracia. Com efeito, ao definir a democracia essencialmente como um método competitivo de escolha de governantes, esta perspetiva desconsidera o facto de mesmo países que adotam o mecanismo eleitoral poderem conviver com a realização de eleições que não são inteiramente livres, tornando discutíveis os seus resultados.
Além disso, a vertente minimalista dá pouca importância ao que acontece com as demais instituições e princípios inerentes à democracia. Instituições como o parlamento, o executivo, os tribunais, a liberdade de imprensa, bem como os direitos e garantias das minorias e dos indivíduos, o mecanismo dos checks and balances, etc., podem funcionar de forma deficitária ou incompatível com o que é um Estado de Direito Democrático.
Veja-se hoje o que acontece com o proliferar das chamadas “democracias iliberais” ou “regimes híbridos”, que não só questionam a existência das democracias representativas liberais enquanto the only game in town como correspondem a uma inequívoca deterioração destas, porque limitam a legitimidade da oposição, restringem a independência do poder judicial, cerceiam o pluralismo dos media e com a ajuda das redes sociais assaltam o próprio conceito de verdade. É esse o foco da sua agenda política e são três, em geral, as suas técnicas de governo: a ocupação do Estado; o clientelismo em massa; e a repressão da sociedade civil. E tudo isto se faz de forma incremental, usando os mecanismos democráticos para deformar ou subverter a democracia.
Estas “democracias iliberais”, “democracias defeituosas” – ou “autoritarismos competitivos”, como alguns não hesitam em classificá-las – mostram-nos cada vez mais como as democracias se consolidam, mas mostram-nos também como essas mesmíssimas democracias também se podem desconsolidar, sendo a democratização afinal um processo de dois sentidos. Em suma, as democracias já não caem pelo método violento do derrube ou do colapso, mas sim pelo método incremental da erosão. Usando os mecanismos do regime democrático para subverter a própria democracia. A democracia representativa liberal, bem entendido. Mas não nos adiantemos, pois voltaremos a este tema um pouco mais à frente.
Percebe-se, assim, que perante a “falácia eleitoralista” e as suas inúmeras limitações e equívocos, Robert Dahl, cientista político norte-americano e professor emérito na Universidade de Yale, na sua conhecida obra “Poliarquia: Participação e Oposição” tenha ampliado e completado a definição mínima de democracia, demonstrando que o princípio da contestação pelo poder só pode ser efetivamente assegurado se existirem outras condições institucionais capazes de garantir a participação dos cidadãos na escolha de governos, nomeadamente:
- Dirigentes eleitos;
- Eleições livres, justas e frequentes;
- Liberdade de expressão;
- Fontes alternativas de informação;
- Liberdade de associação;
- Cidadania inclusiva.
Se nos detivemos na descrição, ainda que muito sumária, das instituições necessárias a uma democracia dita poliárquica, essa opção encontra-se justificada pelo facto de os autores contemporâneos mais representativos no estudo da qualidade das democracias contemporâneas partirem precisamente dessa conceção para fixarem o que entendem por uma democracia de qualidade ou uma boa democracia.
Entre eles mencione-se aqui Leonardo Morlino e Larry Diamond (2005) que têm um longo e destacado trabalho nesta matéria, assumindo como premissa principal que só faz sentido avaliar a qualidade de uma democracia se esta reunir as condições básicas de uma poliarquia tal como definida por Robert Dahl, ainda que façam ressaltar o facto de a democracia não estar sujeita apenas a certos procedimentos, mas que há nela também valores, sendo estes que sustentam as regras. Quer isto significar que a democracia é também uma forma de governo portadora de um determinado fim. Dito ainda de uma outra maneira: a democracia não é um mero método para a tomada das decisões políticas, desprovida de qualquer finalidade, não exigindo como tal nenhum conteúdo que justifique essas decisões.
Tanto assim é que, no modelo de análise que propõem para avaliar a qualidade da democracia, estes autores destaquem três dimensões essenciais: 1) a que se refere aos conteúdos, isto é, ao respeito pelas liberdades civis e direitos políticos e à progressiva implementação da igualdade social e económica); 2) a que respeita aos procedimentos, e que contempla o primado da lei, a participação e competição políticas e as duas modalidades de accountability, nomeadamente a vertical (através da realização de eleições) e a horizontal (através da separação e interdependência dos poderes do Estado); e, por fim 3) temos os resultados que se traduzem sobretudo na responsividade dos governos perante os cidadãos (responsiveness), sendo suposto que estes possam (e devam) avaliar se as políticas públicas desenvolvidas e o funcionamento concreto do governo correspondem aos seus principais interesses e preferências.
Resulta daqui que, segundo estes dois autores, uma “democracia de qualidade” traduz “um ordenamento institucional estável que, mediante instituições e mecanismos que funcionam corretamente, é capaz de assegurar a liberdade e a igualdade dos cidadãos. Por outras palavras: uma “boa democracia” é, por conseguinte, um regime fortemente legitimado, na medida em que satisfaz tão completamente quanto possível as preferências e necessidades dos cidadãos.
Porque no âmbito deste pequeno ensaio seria impossível abordar, mesmo que muito sumariamente, estas três dimensões de análise e os seus respetivos desdobramentos, optamos por nos centrar num aspeto extremamente importante e suficientemente amplo, nomeadamente o facto de se tratar de “um regime fortemente legitimado pelos cidadãos”. Feita esta opção, que de algum modo nos remete ao início deste ensaio, falaremos da qualidade da democracia em Portugal à luz da legitimidade e do apoio popular ao sistema político. O pressuposto fundamental da nossa reflexão é assim o seguinte: quanto mais expressivo for o apoio popular à democracia, tanto maior será a sua qualidade em termos de conteúdos, procedimentos e resultados.
- Qualidade da Democracia ou a Democracia do nosso descontentamento?
Olhemos então para a qualidade da democracia em Portugal à luz da teoria do apoio ao sistema político, entendido, este, como o conjunto de crenças, atitudes e comportamentos dos cidadãos, quer em relação aos ideais, valores e princípios estruturantes da democracia (chamado apoio difuso), quer em relação às suas principais instituições e atores políticos (designado apoio específico), procurando sempre suportar os nossos argumentos e considerações com a evidência empírica disponível e mais recente.
Por apoio difuso entende-se a crença interiorizada dos cidadãos de que a democracia, as suas instituições e os seus procedimentos constituem a forma mais apropriada de governo, sendo que esta crença ocorre a despeito dos resultados produzidos pelo sistema político: é uma preferência estrutural e durável no tempo pelo tipo de regime vigente, da qual não se abre mão – daí que este tipo de apoio seja em tudo assimilável ao conceito de legitimidade política, na medida em que está na base da obediência consentida dos cidadãos. Já o apoio específico traduz a aprovação conjuntural e, como tal, variável no tempo, relativa ao desempenho das instituições e atores políticos e ao modo como estes asseguram as funções que lhes são atribuídas.
Donde, e de acordo com a literatura existente, o apoio difuso tem como objetos, por um lado, a comunidade política, ou seja, os sentimentos mais gerais e primordiais dos cidadãos quanto ao sentido de pertença à comunidade nacional de que fazem parte, traduzidos, por exemplo, no orgulho e na identidade nacionais, e, por outro lado, o regime político, ou seja, a aprovação dos princípios gerais e estruturantes do regime existente, o que pode incluir tanto a aceitação de valores e princípios democráticos como autocráticos.
Por sua vez, quando falamos em apoio específico, estamos a referimo-nos às instituições políticas, isto é, ao apoio e confiança dos cidadãos nas instituições do Estado, dotadas ou não de soberania, como sejam a presidência, o governo, o parlamento, os tribunais, mas também as forças de segurança do Estado, os partidos políticos, a Administração Pública, etc. Mas estamos a referirmo-nos também às autoridades políticas, isto é, ao apoio ou confiança nos titulares de cargos públicos eletivos (ou nomeados), enfim, aos dirigentes políticos que geralmente cabem nos conceitos de classe política ou elite política.
- Apoio difuso à democracia em Portugal?
Explicada que está a distinção fundamental entre apoio difuso e apoio específico, comecemos, então, por abordar o apoio difuso à democracia, entendida, esta, enquanto regime político. E aqui, importa começar por dizer que, em inúmeros estudos internacionais e nacionais realizados em sede académica, é prática corrente colocar aos cidadãos inquiridos a seguinte questão: “Diga-me se concorda totalmente, concorda, discorda ou discorda totalmente da seguinte afirmação: A democracia pode ter muitos defeitos, mas é ainda assim a melhor forma de regime”, à exceção de todas as outras, permito-me acrescentar recuperando o célebre dito de Winston Churchill!
Ora, em Portugal, considerando o período que vai de 2000 a 2016, podemos dizer que cerca de 90% dos portugueses concordam com esta afirmação, o que corrobora o seu apoio largamente maioritário e inequívoco à democracia enquanto ideal e ideário ao mesmo tempo que afasta qualquer crise de legitimidade do regime estabelecido em Abril de 1974.
Porém, se é prática corrente nos inquéritos internacionais e nacionais realizados na Academia a inclusão da pergunta supracitada para mensurar o apoio difuso à democracia enquanto regime político, é também comum a inclusão de outras questões adicionais no sentido de aferir com maior rigor e realismo o apoio meramente normativo à democracia, cruzando-o com o apoio a outras formas de governo ditas autocráticas. Uma dessas questões diz respeito à preferência dos cidadãos por um regime político liderado por um homem forte, que não tenha de se preocupar nem com o Parlamento nem com as eleições. Já a outra questão diz respeito a um regime em que as decisões políticas fundamentais do país não são tomadas por decisores políticos eleitos, mas antes por especialistas ou técnicos.
Pois bem, se na primeira pergunta estamos perante um regime antidemocrático baseado num líder, cuja eleição não respeita os princípios básicos da democracia e cuja ação política é inteiramente independente da fiscalização e do controlo parlamentar; já na segunda estamos perante um regime igualmente antidemocrático, mas de natureza tecnocrática.
Chegados aqui, seria de esperar que, face ao apoio largamente maioritário dos portugueses à democracia enquanto regime político – o que não é específico da nossa realidade nacional, encontrando-se também nas velhas e um pouco menos nas novas democracias –, não houvesse espaço entre nós senão para um apoio meramente residual quando em causa estão as duas outras formas de governo de tipo autocrático. Porém, tal assim não é. Vejamos, uma vez mais, o que os números nos dizem a este respeito e que reflexões nos sugerem.
- Apoio maioritário à democracia, mas…
O facto de em média, entre 2002 e 2016, cerca de 45% dos portugueses manifestarem a preferência por um “governo de um líder forte”, que não tenha de se preocupar nem com o controlo popular exercido através de eleições livres, justas, periódicas e competitivas, nem com a fiscalização e controlo da sua atuação pelos partidos com representação parlamentar, mais do que sinalizar uma crise de legitimidade do regime democrático, parece ser antes o resultado da sobrevivência no Portugal democrático de alguns traços de uma cultura política manifestamente antipartidária e antiparlamentar, fruto de quase meio século de um regime de recorte ditatorial, centrado na figura de Oliveira Salazar e profundamente marcado pelo seu estilo pessoal de governação.
Para além destes traços antidemocráticos e antiparlamentares que subsistem na cultura política portuguesa, estes dados mostram-nos também – e talvez de forma mais consentânea como uma democracia que conta já com 45 anos de existência – a importância que tem entre nós o fenómeno da forte personalização da vida política, em que o carisma e as virtudes dos líderes tendem a ser mais importantes do que os ideais professados e os programas apresentados pelos partidos sobretudo num contexto de forte mediatização da vida política – um traço da cultura política portuguesa que não deixa de remeter para o tão professado sebastianismo e ao culto dos homens providenciais.
Mas, e de um ponto de vista mais institucionalista, talvez encontremos outras explicações para uma tão expressiva preferência dos portugueses por um regime de um “homem forte”. Trata-se precisamente da evolução, que tem sido notada por muitos, de um sistema de governo semipresidencialista, consagrado na nossa Constituição de 1976, para um sistema de governo que em termos práticos tem funcionado sobretudo como um “presidencialismo de Primeiro-Ministro”, pois o que na realidade se observa tem sido a excessiva concentração do poder no Governo e, dentro deste, na pessoa do primeiro-ministro.
O que faz com que as eleições legislativas sejam vistas mais como a eleição direta do governo e do futuro chefe do executivo e menos como a escolha dos candidatos a deputados ao Parlamento. E isto não obstante a situação inédita em Portugal da chamada Geringonça e, com esta, da afirmação da centralidade do Parlamento no tabuleiro da vida política nacional, a que alguns se tem referido oportunamente através da fórmula “semipresidencialismo de assembleia”.
Mas não nos enganemos, mesmo apesar deste aparente intervalo, a verdade é que a posição do primeiro-ministro continua a representar o locus central da liderança política, como continua igualmente a ser o principal bónus para os partidos, nomeadamente os partidos do arco da governação!
E aqui chegados que explicações encontrar para que – leia-se bem – cerca de 65% dos portugueses, entre 2002 e 2016, manifestarem também uma preferência por um “governo de especialistas” em vez de um “governo de políticos”. Quanto a nós, este facto traduz menos a opção por um governo antidemocrático – que pressupõe que sejam apenas chamados a decidir aqueles que detêm conhecimentos técnicos específicos – mas reflete antes a crescente desconfiança dos cidadãos em relação à classe política.
Da qual os portugueses desconfiam profundamente, já que somos um dos países europeus onde é menor o nível de confiança nos dirigentes políticos, os quais, fazendo uso dos dados de um inquérito nacional de 2014, são considerados pela maioria dos portugueses como sendo corruptos, indiferentes aos reais problemas da população e pouco preparados do ponto de vista técnico e político. Mas deixemos para mais tarde este ponto!
Por agora, diga-se tão-somente, que se estes dados não desafiam a legitimidade da democracia enquanto regime político em Portugal, não podemos, contudo, esquecer que a democracia e tecnocracia são antitéticas: a democracia assenta no pressuposto de que todos podem decidir a respeito de tudo, enquanto a tecnocracia pressupõe que sejam apenas chamados a decidir aqueles (poucos) que detêm conhecimentos específicos – e, como tal, é uma forma de governo não democrática.
Por outro lado, o facto de uma percentagem tão elevada de portugueses preferir que sejam os especialistas e não os políticos a tomar as decisões que consideram ser as melhores para o país, obriga-nos necessariamente a refletir sobre algumas questões importantes, desde logo sobre o tema da profissionalização da política entendida como especialização técnica e não estritamente como carreira política.
Uma carreira que, no sistema político português, pressupõe um longo cursus honorum no interior dos partidos, nos quais a escolha daqueles que ocupam cargos públicos eletivos (“políticos profissionais”) ou de nomeação política (“políticos semiprofissionais” ou “políticos camuflados”) resulta de critérios estritamente partidários (quando não clientelares, familiares ou de relações de amizade), definidos de forma hierárquica e centralizada por uma oligarquia interna que detém o poder de decisão, e que não têm a ver obrigatoriamente com as qualidades pessoais, com os percursos académicos e profissionais dos candidatos a tais cargos – e daí a conhecida rigidez e fechamento da classe política face à sociedade civil, a sua natureza autorreferencial e a falta de qualidade e renovação dos seus membros. Estes dependem cada vez mais e, na maioria dos casos, exclusivamente da vida política para viver, fazendo desta uma profissão a tempo inteiro e a título permanente, e não uma verdadeira entrega à causa publica, temporária e desinteressada.
O que está aqui em causa é o sempre e aparentemente irremediável conflito entre partidocracia e meritocracia, sobretudo quando em causa estão cargos de nomeação ou confiança política. E o que não faltam no nosso país são exemplos que ilustrem tal conflito. Veja-se, por exemplo, o caso da CRESAP (Comissão de Recrutamento e Seleção para Cargos de Topo na Administração Pública), criada pelo anterior executivo PSD/CDS-PP com um objetivo originário nobre e exigível. Basta aceder ao site da CRESAP para se perceber que a sua missão fazia (e faz) todo sentido: “A CRESAP assegura com transparência, isenção, rigor e independência as funções de recrutamento e seleção de candidatos para cargos de direção superior da Administração Pública e avalia o mérito dos candidatos a gestores públicos”.
Entende-se daqui que a chave para termos bons quadros superiores, que façam a interface entre o poder político e a Administração Pública, não é apenas que aqueles estejam alinhados e cumpram com zelo as orientações governamentais, é preciso também (e muito) que tenham uma formação de excelência, uma cultura de serviço público, mandatos claros e transparência na atividade realizada.
Uma questão central em relação à nomeação de cargos dirigentes é, em Portugal, como constantemente se experiencia, a importância relativa assumida, quer pela confiança política (definida pelo Governo), quer pela competência técnica (avaliada por entidades independentes). Ora, se é verdade que idealmente estes dois fatores devem ser cumulativos, não é menos verdade que se a escolha for entre dirigentes empenhados na implementação das políticas governativas e dirigentes idóneos e tecnicamente competentes, que triunfem claramente os segundos e não os primeiros. Precisamente, o contrário do que acontece na prática, quando percebemos que pela vontade e prática do anterior como do atual Governo, a CRESAP é simplesmente ornamental, um mero formalismo. É pena, mas é a mais pura realidade, como aliás o reconhecem as pessoas que a tutelam.
Ainda a este respeito, vejamos também, o caso mais recente – que reinscreve na agenda mediática a famosa promessa do ex-primeiro-ministro António Guterres de “no jobs for the boys” – do recrutamento endogâmico levado acabo pelo atual Governo socialista, que sinaliza não apenas a fragilidade do sistema de recrutamento da classe política, como o fechamento social e a privatização da política, para não falar do conflito de interesses, da falta de objetividade e da parcialidade que podem prejudicar (ainda que nem sempre, diga-se!) os processos de decisão política.
Os exemplos desta aversão generalizada dos portugueses à classe política e a sua preferência expressiva por especialistas e técnicos no processo de tomada de decisão (a tal tecnocracia) multiplicam-se. Mas se trazemos aqui estes dois casos é porque estes são bem ilustrativos de como a classe política é cada vez mais contestada junto da população, tornando-se distante, alheada e autorreferencial, em suma, funcionando numa espécie de circuito fechado em que as pessoas se conhecem todas e têm poucas raízes naquilo que acontece fora das relações partidárias. Em que os cargos políticos são desempenhados como algo pessoal, privado, íntimo até.
Como os estudos mostram, a maioria dos portugueses não convive bem com o facto de a pertença a juventudes partidárias, ou a amizade e confiança pessoal de militantes, sejam considerados como requisitos indispensáveis para aceder a cargos dirigentes, sejam eles eletivos ou de nomeação.
Com efeito, numa democracia madura, facilmente escrutinável e assente em sólidos valores éticos, ser filiado num partido não deveria constituir uma vantagem essencial, nem um obstáculo, para se alcançar um lugar de direção no topo do Estado ou um lugar público eletivo, a nível do poder super-estadual, estadual ou local. Não deveria ser, mas em Portugal, é um ativo importante, para não dizer decisivo!
E se é verdade que as situações descritas acima (e muitas outras que poderíamos trazer aqui) não afetam, per se, a legitimidade da democracia enquanto regime político (isto é, a sua dimensão normativa), não é menos verdade que afetam (e muito) o nível de confiança dos portugueses em relação ao funcionamento concreto e quotidiano da democracia (isto é, a sua dimensão funcional). Basta referir que o nível de confiança dos cidadãos no modo como funciona a democracia é em termos médios de 39%, atendendo aos dados do Eurobarómetro entre 2000 e 2017, quando no conjunto dos países europeus soube para 49%, independentemente das variações inter-regionais.
- A Democracia, a Antipolítica e os males da Partidocracia
Muito revelador dos entraves à renovação e circulação do pessoal político em Portugal, bem como à fragilidade e falta de maturidade do funcionamento do nosso sistema político – quando considerado não em termos normativos, mas sim em termos funcionais – é inteiramente percetível se olharmos para os níveis de confiança dos portugueses naquelas que são as instituições indispensáveis e insubstituíveis para funcionamento de uma democracia representativa, tal como a conhecemos. Refiro-me precisamente aos partidos políticos.
Entre todas as instituições políticas, os partidos são as instituições mais mal-amadas e mais contestadas em Portugal. Basta dizer que apenas 18% dos portugueses dizem confiar nos partidos, atendendo uma vez mais aos dados do Eurobarómetro, entre 2000 e 2018. Uma média que é apenas de 20% se considerarmos todos os países da União Europeia.
Uma das razões para este antipartidarismo cultural, crítico e endémico reside, desde logo, na génese do próprio sistema partidário português, onde os maiores partidos se afirmaram como partidos de tipo catch-all (ou partidos de eleitores) caracterizados por compromissos ideológicos vagos, superficiais e transversais, por uma organização bastante débil, na qual sobressai sobretudo a figura do líder nacional em detrimento dos outros órgãos partidários e dos membros de base e ativistas partidários – que se tornam “dispensáveis” quer em termos financeiros quer enquanto recursos humanos, no contexto de campanhas eleitorais de capital intensivo, ou seja, campanhas eleitorais fortemente personalizadas, profissionalizadas, mediatizadas e extremamente onerosas, pelo uso que fazem dos meios de comunicação social de massas (em especial a televisão), e pelo recurso sistemático aos chamados “novos profissionais da política”, ou seja, aos técnicos e especialistas nas mais diversas áreas da comunicação e marketing político.
Por outro lado, os meios fornecidos pelo Estado aos partidos – através do financiamento público das suas atividades correntes e das campanhas eleitorais –desde cedo substituíram os recursos fornecidos pelos militantes; constituindo, por conseguinte, um claríssimo desincentivo para que os dois maiores partidos (PSD e PS) se empenhassem na construção de organizações partidárias vocacionadas, quer para o recrutamento massivo de membros e sua respetiva integração política, quer para um enraizamento social mais profundo e próximo dos eleitores.
Ao assumirem-se como partidos de tipo catch-all – ao contrário do que aconteceu nas velhas democracias europeias onde os sistemas partidários nasceram em torno dos chamados partidos de massas ou de integração social – não só debilitaram os vínculos de proximidade e a forte identificação entre partidos e cidadãos, como tornaram menos relevantes muitas das suas funções societais (desde a integração, socialização e mobilização políticas, passando pela articulação e agregação de interesses existentes na sociedade, até à formação e informação política dos eleitores).
A confirmá-lo estão o declínio da identificação e do ativismo partidários, o decréscimo da participação nas eleições gerais (as chamadas eleições de primeira-ordem), bem como desinteresse dos cidadãos em todas as formas de participação promovidas pelos partidos. Centrados sobretudo nas funções institucionais (recrutamento político, organização e composição do Parlamento e do Governo) o progressivo distanciamento entre os partidos e a sociedade civil, e vice-versa, foi rapidamente concluso por uma outra tendência, a saber: a crescente cartelização dos maiores partidos através do enfeudamento e captura do Estado.
Não é por acaso que atualmente os dois maiores partidos do regime (PS e PSD) são designados não apenas de partidos catch-all, tendo evoluído sobretudo para partidos cartel, caracterizados, quer pela sua crescente dependência do Estado, do qual depende a sua sobrevivência em termos de recursos financeiros como humanos, quer pelo progressivo (e até deliberado) distanciamento da sociedade civil, focando-se cada vez mais na sua ação governativa em detrimento da sua ação representativa. Estes são os principais responsáveis pela antipolítica ‘from above’.
Atuando sobretudo como agências semipúblicas, aos partidos cartel interessa sobretudo não um enraizamento social mais profundo e uma relação mais próxima com os eleitores, mas sim a conquista das instituições do Estado a partir de cima, a proteção de interesses, a distribuição de lugares e o reforço de privilégios, e porque não a partidarização da administração central e periférica do Estado, e mais recentemente ao nível dos gabinetes ministeriais e dos institutos do Estado.
Donde, mais do que contrariar a enorme desconfiança e o crescente apartidarismo e antipartidarismo dos cidadãos, procurando manter ou aumentar os seus níveis de filiação e participação política, os “partidos-cartel” mostram-se bastante mais interessados em criar um ambiente institucional e normativo eminentemente protecionista, que seja o mais favorável possível à sua sobrevivência corporativa e que lhes permita fazer face aos atuais desafios colocados pelos possíveis rivais antissistema – os quais exploram ao máximo os sentimentos de forte contestação e hostilidade dos cidadãos face aos partidos mainstream.
Notas 1, 2, 3: Stone, Isidor Feinstein (1989. “The Trial of Socrates”
Conceição Pequito assina este texto na qualidade de Autora do ensaio “Qualidade da democracia em Portugal” da Fundação Francisco Manuel dos Santos