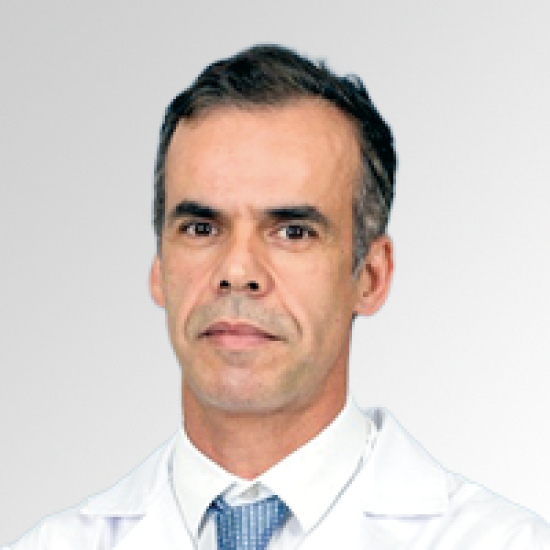Neste tempo de paragem de emergência, propomos uma série de reflexões sobre o tempo vivido nas suas dimensões sociais, económicas e existenciais. Trata-se de um trabalho em progresso, necessariamente efémero e sem qualquer outra ambição que não seja a de aprofundar o questionamento crítico sobre o momento de crise que estamos a atravessar.
Toda a experiência do tempo está em sobressalto desde que entrámos, grande parte da população, em dever de recolhimento. Interrompem-se ritmos. Sustêm-se outros – até poder, dentro da capacidade da economia e da sociedade susterem a respiração.
Mas também cada pessoa, os mais novos que depressa se adaptam a um novo mundo, de vida desmaterializada, mediada por plataformas, redes sociais, consolas, e os mais velhos que pelo contrário resistem a abdicar do seu mundo, a deixar de cheirar o ar da rua, a ponto de se exporem ao risco. Como se uma angústia da vida com sentido prevalecesse sobre a racionalidade e o que ela manda fazer. Mas é como os ossos partidos: nas crianças curam depressa, mas nos velhos há uma resistência à cura que se instala nos corpos e no espírito.
Depois, há os que não são demasiado novos nem velhos e que, por isso, se sentem responsáveis em estar à altura da emergência, sem perder dela o controlo. Confinados, todos os ritmos apertam-se como se, ironicamente, estivessem à pinha numa carruagem de metro em hora de ponta.
O trabalho, o lazer, as tarefas da casa, a compreensão do que está a acontecer, a vontade de participar. Na verdade, até se intensificam, empurram-se, a ver se cabe mais um, não se sabe se a debelar o horror ao vazio ou se obstinados em provar alguma coisa. Como se procurássemos demonstrar coletivamente, mas cada um dentro da sua casa, que conseguimos fazer sobreviver o tempo que lá fora entrou em modo de suspensão.
Este contraste, um tempo parado, às moscas, e um tempo desenfreado, à pinha, um em tensa luta para suster o outro, como numa luta de vida e de morte, que dá a impressão de catástrofe iminente – até quando aguentamos suster a respiração? – dá que pensar.
Que significa ao certo esse tempo suspenso? A filósofa espanhola Maria Zambrano falava da relação entre o tempo e o sonho de forma bastante insólita. Dizia que “em sonhos não existe tempo; quando sonhamos não temos tempo. Ao acordar devolvem-nos o tempo”. Ora, seguindo a sua linha de pensamento, é como se o tempo suspenso lá fora, no planeta todo a braços com uma pandemia, fosse o de um sonho e que estivesse em causa devolvermo-nos o tempo acordando. Mas escreve também que o “tempo no sonho é sem poros, é um tempo compacto onde não podemos entrar”. Mas, então não será exactamente o contrário?
Não será este tempo à pinha, com horror ao vazio, em que nos obstinamos, precisamente o lugar de um tempo que não acontece, uma imobilidade de sonho? Um tempo sem fissuras não é um tempo nosso, que nos seja devolvido. Nele, e de novo Zambrano, “somos externos ao que nos sucede; a consciência não intervém, pelo contrário, separada, assiste.” Não será nesse outro tempo, suspenso, que ele esteja a pedir para acontecer e a interpelar-nos?
Estas perguntas não são vontade de paradoxo, mas de sentido. O paradoxo real é outro: sofrermos já menos pelos constrangimentos de calamidade da saúde do que, por antecipação e na maneira como nos obstinamos já, pelo pós-pandemia que nos aguarda, a pancada dura das consequências económicas que nos antevemos, de um brutal e brutalizador “tudo volte ao que era, custe o que custar, ou esperem pelo pior”.
A respiração sustida, até ao pesadelo, já vai desenhando a regra do jogo seguinte: a pior crise económica de sempre, 2009 ao pé disto uma brincadeira, a hecatombe.
Esta crise não pode só ser suportada sem que nada por ela seja posto em causa. Este tempo contínuo, sem fissuras, que agora se julga elástico, obrigando-nos a suster a respiração, para não quebrar, tem de ser questionado. Esta cadeia causal de contínuo presente a que pode chamar-se “presentismo” (ainda que esta expressão tenha outros sentidos em filosofia e em história), não se relaciona com o passado e com o futuro a não ser sob a forma de uma sequência causal de um presente anterior para um presente posterior, somente presentes em sucessão cronológica.
Passado e futuro sem outro significado do que o de causas e efeitos. Aliás, a maneira como vivemos aceleradamente o tempo é só uma maneira de nos fazer abrir mais os olhos para o presente e de não os desviar nunca para o resto do horizonte temporal. O presentismo é a proibição de nos perdermos no tempo, nele viajarmos.
Se a temporalidade é a maneira como nós, individualmente e comunitariamente, vivemos o tempo e se há tantas maneiras de o viver como culturas, se a temporalidade é uma cultura do tempo, então é tempo de questionar esta cadeia contínua de presentes, sem fissuras, correr imperturbável, que nem acontecimentos nem o próprio tempo vivido, pelo passado e pelo futuro, perturbam.
Porque neste momento aquilo por que nos debatemos, e mal, é para que nem uma pandemia que nos confina em casa o perturbe, este tempo sonho que é pesadelo. Somos reféns do monstro que o sonho da razão produz. Goya só não disse que se tratava da razão económica. E foi ainda Goya que pintou aquele impressionante Saturno a devorar os filhos, o titã que, antes, os Gregos chamavam Cronos. Precisamente para os gregos, o tempo não era só sucessão cronológica como agora, nesta pobreza de experiência que é o tempo acelerado. Para eles, era também o acontecimento do instante oportuno para algo se dar. Por isso, distinguiam entre Cronos e Kayros, como entre medida e acontecimento.
A religião cristã tomou os mesmos conceitos para distinguir o tempo terreno do tempo de deus. Mas poderia ser também o tempo físico, ou até o tempo da economia, em contraste com o tempo do sentido. E posta assim a diferença, esta pandemia que nos sustém devia ser o Kayros que restaura os direitos da humanidade ao próprio Kayros pondo cobro à hegemonia do Cronos económico.
Por outras palavras, é preciso jogar nesta crise uma questão de sentido. Mesmo se toda a emergência, especialmente a económica e pós-pandémica, nos empurre a desconvocar a sua urgência. E o que vale para a nossa cultura de tempo vale para tudo o mais no que os filósofos alemães chamavam Lebenswelt, mundo da vida.
Lutamos contra uma pandemia não para eliminar o gozo enorme dos espanhóis em passar os fins de tardes nas suas “plazas” e dos italianos em reunir todas as gerações da família à volta de uma mesa ao jantar e, por cá, daquele norte que não consegue cumprimentar ninguém sem tocar nas pessoas. Isto é o que queremos conservar como uma resistência da cultura. Não pode acontecer resignarmo-nos à lógica darwiniana da sobrevivência do mais adaptado que a compulsão da emergência pode induzir.
A vantagem da cultura é ser mais criativa do que quaisquer genes, e mais inventiva do que qualquer vírus. Porque a vantagem da cultura é ser o modo de existirmos sem termos de nos exprimir em termos de vantagens.
No Bangladesh a epidemia não alastra apesar da pobreza e de uma demografia imensa, talvez porque a cultura é a de as pessoas não se tocarem quando se cumprimentam. E talvez na China tenha importado pouco não ser uma democracia liberal e tenha importado muito ser uma cultura em que é mais o comportamento colectivo a formar o individual do que o contrário.
Talvez se sobreestime a política e se subestime modos de vida partilhados culturalmente nesta pandemia. E é importante perceber que estes não devem estar ao alcance das escolhas políticas. Porque culturalmente ninguém escolhe deixar de ser o que é. Continuamo-nos transformando-nos, e certamente fazendo escolhas, mas impregnando o passado com as exigências do presente e as esperanças do futuro. Aqui, não há vantagens nem darwinismo; há coexistência e desafios, por difíceis que sejam. Isso é viver e não sobreviver.
A coexistência é relacional. Segundo Erving Goffman, a ordem da interação social define-se como aquilo que surge unicamente em situações, nas quais duas pessoas ou mais se encontram fisicamente em resposta de um e de outro. Não podemos abdicar desta reciprocidade que só acontece em face-a-face. O domínio do virtual e das redes sociais ajuda-nos a desafogar parcialmente da clausura, mas não nos liberta do isolamento social.
Só a reconquista da copresença voluntária e sem fronteiras pré-fabricadas
, em resposta de um e de outro, nos permitirá construir cultura e reinventarmo-nos em plenitude. Vivemos tempos em que testamos a humanidade, a sua resistência a ser reduzida à condição biológica e à sua administração. Sobretudo, num tempo de emergência que tende a fundir biologia e economia num único contínuo. Romper com a inevitabilidade de Cronos passa por reencontrar o contexto particular do momento vivido no cruzamento irrepetível do tempo e do espaço.
O momento como império de singularidades, incapaz de ser reproduzido na bidimensionalidade das plataformas digitais. O direito à experiência do aqui-e-agora, irreplicável e indomável, é uma reivindicação do tempo que nos interpela e para o qual queremos e vamos poder despertar.
BIO
André Barata é autor do livro E se Parássemos de Sobreviver: Pequeno Livro para Pensar e Agir contra a Ditadura do Tempo, Documenta, 2018.
Renato Miguel do Carmo é co-autor do livro A Miséria do Tempo: Vidas Suspensas pelo Desemprego, Tinta-da-China, 2020.