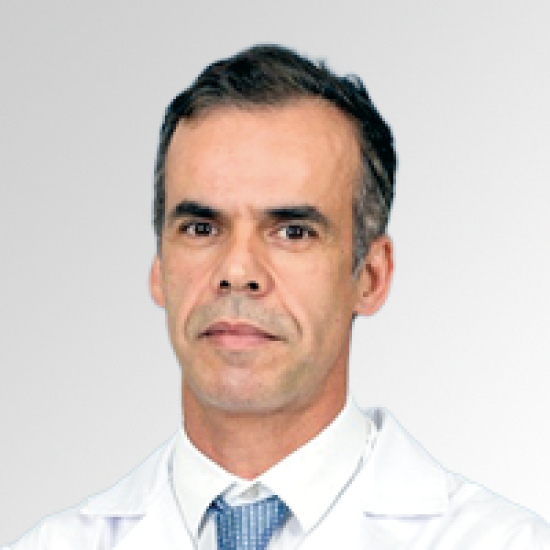Neste tempo de paragem de emergência, propomos uma série de reflexões sobre o tempo vivido nas suas dimensões sociais, económicas e existenciais. Trata-se de um trabalho em progresso, necessariamente efémero e sem qualquer outra ambição que não seja a de aprofundar o questionamento crítico sobre o momento de crise que estamos a atravessar.
A história da humanidade confunde-se com a história da técnica a ponto de serem indiscerníveis e se poder dizer que o humano – sermos humanamente – começou não com uma certa materialidade orgânica, regulada por um ADN, mas com o que nela conseguiu acontecer: o nascimento da técnica.
Alguma razão tinha o “2001 – Odisseia no Espaço”, do Stanley Kubrick, ao começar, sob o poema sinfónico “Assim falava Zaratustra”, do Richard Strauss, com aquele pedaço de pau empunhado pela primeira vez, a alargar, junto com um grunhido a ganhar forma de grito, a força de um braço de um primata. Esse é o princípio da história humana que nos conduz, domínio técnico sobre domínio técnico, ao que hoje chamamos aperfeiçoamento humano (“Human enhancement”), que estende capacidades físicas e mentais com recurso à tecnologia de ponta, bionanotecnologia por exemplo, e ao transhumano, que vai importando elementos não humanos no corpo biológico humano, dando lugar a cyborgs, mas também a formas pós-humanas, replicantes do “Blade Runner” ou outras realizações materiais cuja humanidade pode tornar-se num futuro talvez não tão distante uma questão de direitos.
Mas, ao mesmo tempo que a ficção científica, primeiro, e a realidade, depois, vão perfilando no horizonte estas novas criaturas, também esta velha humanidade de carne e osso que somos, biologia separada da cultura, vai desmaterializando de forma perturbadora.
Por um lado, externalizamos faculdades mentais, logo a memória, que alargamos, mas largando mão dela. Um exemplo simples: guardamos milhares de números de telefone nos nossos smartphones, mas já só sabemos de cor aqueles que memorizámos há muitos anos, décadas atrás, o da casa de infância ou os da casa dos avós, e um ou outro número de telemóvel. Mas, também o cálculo mental, depressa deixado à calculadora, ao computador. E a capacidade de nos orientarmos num espaço, cada vez mais entregue a apps de GPS.
Por outro lado, desmaterializamos relações concretas, cada vez mais migradas para media sociais. Ultrapassam-se assim as barreiras do espaço-tempo, permitindo chegar a toda a parte, mas não em corpo, apenas um espectro de cada um. Comparecemos cada vez mais, como se fôssemos ubíquos, mas cada vez menos por inteiro. E a contrapartida disso é que os outros que chegam até nós dessa maneira também são só uma sombra de si próprios. E todos, de um lado e do outro dos media, cada vez mais encasulados na impossibilidade de uma presença plena no mundo.
O filósofo da ciência da computação Jaron Lanier listou um conjunto de dez razões para acabarmos com as redes sociais e começava por aí mesmo: as redes sociais convertem-nos em casulos, e também nos tornam infelizes, debilitam a verdade, fazem com o que dizemos não importe, tornam a política impossível, fazem-nos perder o livre arbítrio. Neste quadro, conclui: “renunciar às redes sociais é a maneira mais precisa de nos opormos à loucura dos nossos tempos”.
E alienamos sermos sujeitos plenos. De novo a memória é um bom exemplo: vamos permitindo que seja o algoritmo de uma rede social a organizar e a ativar a nossa memória, lembrando por nós os aniversários dos amigos, as fotos tiradas no passado e outras recordações. Como já não nos recordamos de nenhuns números de telefone, vamos deixando de recordar por nós mesmos, sem sermos assistidos. E de modo semelhante, a inteligência de fazer associações, vai sendo deixada, com poupança de esforço de cada um, para uma Wikipedia e, mais genericamente, para uma Web onde todo o conhecimento se encontra à distância do esforço mínimo de alguns cliques.
O preço a pagar pela memória e as outras faculdades expandidas é já não funcionarem bem a não ser assistidas. Com se antes da respiração assistida por ventiladores, toda a nossa existência já estivesse em modo de ventilação, incapaz de funcionar autonomamente.
Na emergência pandémica que vivemos estes meses, todas estas tendências se precipitam. Enquanto lá fora é cada vez mais um espaço sem lugares que se estende sem barreiras, o teletrabalho confinou-nos numa espécie de lugares sem espaço donde não podemos escapar. As redes sociais, que também não são bem lugares, tornam-se os lugares únicos de alternativa ao teletrabalho. Em tempos, o virtual já pôde ser um escape do real, mas agora não temos como fazer do real sequer escape ao virtual.
As aulas síncronas das crianças, a telescola em tempo de emergência, merecem todo o aplauso, mas não exprimem bem o que é uma escola. Os miúdos levados para um mesmo tempo mas sem o mesmo espaço não é bem encontro, comparecer, crescer juntos, na verdade, o mais importante que tinham a aprender.
E como na cognição e no uso das faculdades humanas, a Covid-19 precipita a mesma perda de soberania nas próprias vidas. No sentido de uma compressão de direitos individuais que se perfila e que, na verdade, aprofunda, uma tendência já com um par de décadas de as democracias se irem tornando regimes cada vez menos liberais, a um ponto que deixam de ser democracias (escorregando de democracias iliberais, para “democraturas” e até caírem, como já é claro na Hungria, em autocracias).
Se uma emergência é o pretexto ideal para os regimes autoritários, uma pandemia consagra a sua normalidade global e faz da democracia liberal a exceção, que poderá ter de passar a justificar-se diante da acusação de que é um privilégio desigual. Mas, tanto ou mais perturbadoramente do que isso, a perda de soberania e autonomia, cresce ainda noutro sentido: já não de uma compressão de direitos individuais que, mau grado toda a repressão, preservaria a noção de pessoa e da sua individualidade, mas no de uma dissolução da própria forma de existência que é ser-se um indivíduo autónomo.
Se o individualismo foi uma existência individual desligada de um sentido de comunidade, que pautava a nossa existência desde a segunda metade do século XX, pois bem, a Covid-19 lança-nos definitivamente para uma existência desligada de um sentido de sujeito individual autónomo. O tempo do individualismo está a passar, infelizmente porque o pior que havia nele – a fragmentação do indivíduo e a sua abstração dos laços de comunidade – está a destruir a própria possibilidade de existência individual.
Num pequeno grande ensaio de 1991, “Ética da Autenticidade“, o filósofo canadiano Charles Taylor indicou três formas de mal-estar na Modernidade: o individualismo fragmentador nas nossas sociedades, a razão instrumental que tudo converte em meios e a perda de liberdade. Ressignificando um conceito de Alexis Tocqueville, dava conta da instalação de um “despotismo suave”. Precisamente, hoje é suave e voluntariamente que toleramos máscaras que protegendo na verdade nos encasulam e afastam do mundo. Fica-nos a existência digital, mas esta é muito menos refúgio da opressão do que o lugar de opressão para que nos dirige o confinamento.
A Covid-19 alastrou, subitamente e como nunca no passado, a sociedade digital a toda a existência – trabalho, escola, vida privada, vida pública – e em todos estes domínios a expressão “sociedade digital” poderia trocar-se por “sociedade fragmentadora e encasulada” e por “sociedade ventilada”.
Nesta sociedade, em que progressivamente – como se escorregássemos, e agora muito depressa –, em vez de pensarmos, recordarmos, formarmos vontade, deixamos que algo vá pensando e recordando por nós, vá pré-formando o que sentimos, o que desejamos, vá sendo sujeito por nós. Deslizamos para um regime em que ser-se humanamente está em causa. E estamos a produzir uma forma de dominação de que não nos apercebemos precisamente porque, pela primeira vez na história humana, não somos dela sujeitos.
Estamos assim perante um momento histórico perturbador que desafia o significado do humano nas suas múltiplas dimensões. O desconfinamento não pode, por isso, representar o mero retornar a uma suposta normalidade irreparavelmente perdida. Voltar ao que era antes não é mais que mera ficção cujo guião é acionado coletivamente de maneira a aligeirar esse convencimento ilusório que nos facilita a dar, sem receios acrescidos, os primeiros passos fora da clausura.
Em alternativa, desconfinar tem de significar, antes de mais, um embate nessa força de dominação que nos desapropria como sujeitos. É um enfrentamento a fazer-se quotidianamente, que passa pela humanização da nossa própria existência numa multitude de esferas.
A humanização da economia para que funcione com as pessoas e para as pessoas. A humanização do trabalho para que se torne menos mercantilizado e fator de exploração. A humanização das relações para que se reinvente a proximidade social incrustada na proximidade física. A humanização da morte com tempo e espaço para ser acolhida no viver da comunidade e na comunhão simbólica… Humanizar a humanidade é assim a única possibilidade que nos resta para não perder irremediavelmente o protagonismo e a soberania da nossa história coletiva.
Mas que resposta dar à pergunta que, nestes dias, fez Jacques Rancière – «Quem fará tudo o que for “preciso” para fazer mudar tudo?» A pergunta dentro da pergunta justifica-se porque hoje, cada vez mais, o que está em questão é lutar pelas próprias condições para haver um “quem”, um sujeito. Para poder, então, ser também um sujeito de mudança.
André Barata é autor do livro E se Parássemos de Sobreviver: Pequeno Livro para Pensar e Agir contra a Ditadura do Tempo, Documenta, 2018.
Renato Miguel do Carmo é co-autor do livro A Miséria do Tempo: Vidas Suspensas pelo Desemprego, Tinta-da-China, 2020.