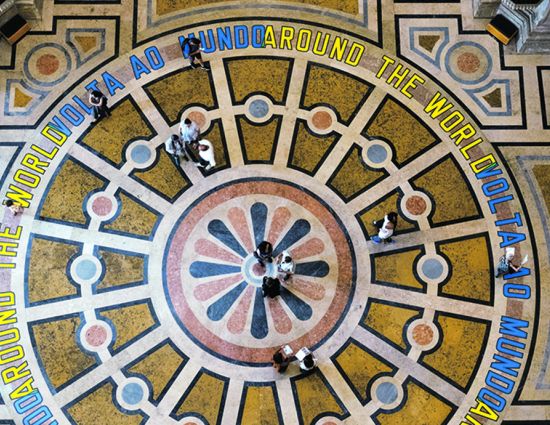Pedro Rebelo de Sousa: “É extremamente inaceitável o que aconteceu na Caixa”

8 de Dezembro de 1960, dia de Nossa Senhora, foi levar um ramo de flores ao Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, numa homenagem da Mocidade Portuguesa. Depois acabou por adormecer na cadeira dele. Como é que isso aconteceu?
Houve um movimento das mães portuguesas, de agradecimento a Salazar, por Portugal ter passado a Segunda Grande Guerra um pouco incólume, ao contrário da primeira. E a Mocidade Portuguesa tinha por tradição entregar flores em nome das mães. Aliás, pertenci muito pouco à Mocidade Portuguesa, a minha mãe era contra. E como as mulheres é que mandam nós fizemos sempre o mínimo na Mocidade. Mas quando era miúdo fui levado como mascote das pessoas que foram visitar Salazar no forte de Santo António. Cheguei lá, eles começaram os discursos, sentei-me no cadeirão dele e adormeci. Quando acordei ouvi ‘mas quem é este menino?’ e alguém disse ‘este menino é o filho do senhor subsecretário de Estado da Educação’. Ainda era muito pequeno, mas respondi: ‘Não sei o que estou aqui a fazer mas quero dar-lhe estas flores’.
E como reagiu Salazar?
Passado uns tempos toca o telefone de Estado e disseram que era para mim. A família ficou admirada e a empregada disse-nos ‘é da casa do senhor Presidente do Conselho’. A governanta comunicou-me que ele gostava de me convidar para dar um passeio de carro. Aliás, ele dava sempre o passeio com uma vizinha da frente, que era filha de um dos seus melhores amigos. Assim, de vez em quando, íamos passear. Tivemos conversas divertidíssimas e lembro-me de uma em especial: “A primeira coisa que vai acontecer é tirar o nome da ponte”. Eu contava-lhe anedotas, também com aquela idade não sabia muitas. No Natal dava-me um presente e eu amêndoas carameladas, que ele adorava.
O que dizia Marcelo?
Pediu-me para lhe fazer uma pergunta: ‘se a pessoa mais importante se sentava à direita, por que é que Salazar ia à esquerda no carro?’. A resposta deixou-o aterrado: ‘São aqueles senhores [da segurança] que mandam. Se vier um tiro, vão atirar para a direita e não para a esquerda’.
O seu pai, Baltazar Rebelo de Sousa, foi governador-geral de Moçambique. O que recorda desses tempos?
Dos três irmãos fui o que mais tempo esteve em Moçambique. O Marcelo já estava na Faculdade e ia visitar-nos. O António estudou lá um ano e regressou para a Faculdade. Eu permaneci o tempo todo com os meus pais. Estudei no liceu Salazar, hoje Graça Machel.
Vivia no palácio?
Quando vejo o meu irmão Marcelo, revejo muito daquilo o que o meu pai tentou fazer em Moçambique há várias décadas. Os meus pais assumiram realmente uma missão e a família foi toda mobilizada para isso. A primeira regra é que os meus amigos nunca entrariam no palácio. Sempre fui a pé para o liceu, consegui ter uma motoreta e a possibilidade da segurança me deixar sair porque havia uma saída secreta. Ao final da tarde ou à noite ia ter com alguns amigos. Acompanhei muito os meus pais [Baltazar Rebelo de Sousa e Maria das Neves Duarte]. Uma das primeiras coisas que o meu pai fez foi visitar a mesquita e aproximar-se das igrejas do credo Muçulmano e Anglicano, além do Católico. Outra coisa muito importante foi relacionar-se com o pseudo líder da oposição e outros. Jantávamos com a família Almeida Santos inúmeras vezes e passou a conviver com escritores ou pintores que tinham sido proscritos. O meu pai foi responsável por ter trazido o Malangatana para a Gulbenkian para fazer um curso. Vivi experiências únicas. Estava sempre de sobreaviso à noite – e grande parte das noites havia jantares oficiais – para preencher o lugar que faltasse. Habituei-me a estar de plantão à noite, a estudar ou a ler, e se fosse necessário vestia fato ou ‘smoking’.
Quando regressou a Portugal?
Em 1970 volto para Portugal, faço o liceu Pedro Nunes e entro na Faculdade. Não estava completamente convencido se ia ser advogado ou não. Pensei em ser missionário ou diplomata, e nunca me passou pela cabeça trabalhar na banca.
Aos 16 anos viu pela primeira vez Ana Margarida Lobato de Faria Sacchetti, “Bi”, na praia do Monte Estoril. Foi amor à primeira vista?
Achei-a linda. Sentei- me na praia, ela estava no toldo a ler e começámos a discutir poesia. Já não me recordo se era Eugénio de Andrade ou David Mourão-Ferreira. Fiquei apaixonado, um estado que pedra até hoje, já lá vão 45 anos. Depois tive de lhe pedir namoro, aquelas coisas que se fazia na época. Entretanto fui operado a uma apendicite e ela foi visitar-me ao hospital com umas amigas. Tinha ido montar a cavalo, ia muito bonita. Eu achei aquilo extremamente sexy e pensei: ‘quando sair do hospital vou convidá-la para tomar um chá’. E assim foi. Não cumpri as ordens do médico, meti-me num autocarro e fui ter com ela. Convidei-a para um chá e pedi-lhe namoro. Expliquei-lhe por a+b que era a melhor opção para ela. Respondeu-me ‘vou pensar’. Entretanto, havia uma senhora que vendia cravos e rosas na esquina da Duque de Loulé com a Praça José Fontana. Passei a pagar uma quantia para a senhora entregar-lhe as flores, até que um dia a minha futura sogra me disse: ‘olhe, vou pedir-lhe um favor. Não mande mais flores. Eu não tenho jarras para tantas flores’. Devo tudo à minha mulher, inclusive o ter abdicado de uma carreira profissional, e não lhe faltava talento, inteligência e preparação.
A sua sogra, a escritora Rosa Lobato Faria….
Uma mulher encantadora. Linda, um ser humano fantástico, uma mulher muito especial. Eu digo sempre [e a minha mulher não gosta que eu diga isto] que me apaixonei pela minha sogra, mas como ela era muito mais velha do que eu, acabei por ficar com o sucedâneo mais próximo. A “Bi” é muito parecida com a mãe, é tão inteligente como a mãe… A minha sogra só produziu aquilo que produziu em termos de romances e de obras poéticas a partir dos 63 anos [antes escrevia espontaneamente poesia]. Como a minha mulher ainda está bem longe dessa idade, tenho a esperança de que, quando lá chegar, eu me reforme e passe a ser o marido de uma escritora.
O Pedro terminou o curso em Portugal e depois partiu para o Brasil. Porquê?
Licenciei-me em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e fui assistente do Drº Miguel Galvão Teles em Ciência Política e Direito Constitucional no ano de 1976/1977. Depois saí de Portugal e fui para o Brasil. Acabei por ir para lá porque era o lugar onde podia exercer advocacia e tinha lá a família. Em relação à revolução, com as nacionalizações, não me revia minimamente no projeto de país que se augurava e resolvi fazer uma carreira num sítio onde podia advogar. Quando cheguei respondi a um anúncio, fui entrevistado pelo Citibank e entrei como advogado junior, em São Paulo, decorria o ano de 1977. Como pode imaginar não era uma sociedade onde o valor do nome ou da família tivesse algum peso. Fiz muita formação: a primeira pós-graduação pela Universidade Católica de São Paulo, em Direito Empresarial e depois o MBA da Getúlio Vargas, na altura considerado o melhor da América Latina. Trabalhava e tinha aulas à noite e ao fim de semana. Quando acabei já era pai de dois filhos, o Afonso e a Mariana.
E ainda tinha tempo para exercer advocacia fora do banco?
Em 1981 comecei a ter responsabilidades mais acrescidas no departamento jurídico do banco. A par disso tinha um escritório pequenino onde atendia alguns clientes, sobretudo amigos e clientes portugueses que tinham ido para o Brasil. O meu primeiro grande cliente foi a Sumol e com os honorários que recebi comprei o primeiro aparelho de som. Depois tive outros clientes, sempre da área não financeira, senão o Citibank não me autorizaria a trabalhar. Mais tarde cheguei a diretor jurídico e acabei por ir para os Estados Unidos.
Como avalia essa experiência?
Os países da América Latina (e não só) começaram a reestruturar as suas dívidas externas. Uma situação parecida com o que aconteceu com a própria Grécia e até com Portugal. E então começou o processo de reestruturação. Os bancos tinham muito peso. Para mim foi uma experiência fantástica e tive sempre muita luta dialética com o meu chefe. Eu defendia que as dívidas eram um problema estrutural e aos bancos convinha dizer que era um problema conjuntural. Tinha 31 anos e vivi cinco em Nova Iorque.
Foi vizinho da Liza Minnelli e do Anthony Quinn…
Lembro-me que ia para o escritório antes das sete da manhã e ela saía à mesma hora. Claro que a Liza entrava numa limousina e eu ia a pé. Vivia na 69th Street, trabalhava na 53th Street e detestava o metro. Portanto, a não ser que estivesse a nevar terrivelmente, ia sempre a pé. A Liza era uma pessoa encantandora. Organizava o Halloween e todas as festas do prédio. O Anthony Quinn conhecia mais vagamente, porque estava velho e quase nunca deixava o apartamento.
Como surgiu o convite para regressar a Portugal?
Tive uma experiência muito intensa nos Estados Unidos. Nessa altura apareceram os bancos japoneses, que passaram a ter o mesmo peso que tinham os bancos do Médio Oriente. Estamos a falar de negociar uma reestruturação com 1500 bancos, sem emails, sem fax, só telex. Em 1988 mudei para outro departamento e participei em transações muitos interessantes. Encontrava-me muitas vezes com os banqueiros portugueses e o Governo português na reunião anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Ia como representante do Citibank. No final de 1989 encontro o ministro Miguel Cadilhe, que me convida para ir para o Fonsecas & Burnay. Depois, o professor Cavaco Silva reiterou o convite quando foi a Nova Iorque.
Foi um regresso difícil?
Acabei por aceitar, mas era uma aposta muito complicada deixar a carreira internacional e a remuneração que auferia. Esta foi a primeira privatização a 100% de uma instituição financeira. Convidei a engenheira Esmeralda Dourado, o Dr. Nuno Amado, outro colega que veio de Paris e mais colegas que já estavam no Fonsecas & Burnay. Privatizámos o banco no prazo em que nos comprometemos e acabou por ser um pontapé de saída para começar a arrumação do sistema financeiro. Entretanto, durante a privatização, pude aperceber-me de como era o universo da advocacia em Portugal e achei que talvez encontrasse espaço para um escritório….
A educação dos filhos pesou no regresso a Portugal?
Não quero que os americanos fiquem zangados comigo. O ensino secundário americano é extremamente virado para dentro. Aprende-se os lagos, as montanhas. O importante é George Washington. Por issso, achei que era muito importante para os meus filhos terem uma experiência fora dos EUA, sobretudo na Europa. E quem não gosta de voltar para Portugal? Era um emigrante, embora não sendo daqueles que emigrou por razões políticas, exilado, ou por razões de sobrevivência. Eu sobrevivia aqui.
Começou na advocacia com uma boa carteira de clientes?
Zero clientes. Lembro-me que o primeiro caso que tive foi a compra pelo Central Hispano dos 20% do Amorim no BCP. E foi muito engraçado porque praticamente não tinha ninguém a trabalhar comigo. Então eu fazia de sócio, advogado-assistente, estagiário, estafeta, ia ao Banco de Portugal buscar os formulários… O comprador, que era um banqueiro do banco Central Hispano, perguntou-me se eu tinha uma equipa. Respondi-lhe: ‘a necessária’. Ou seja, era só eu. Um advogado nunca pode mentir. O segundo cliente foram as cervejas da Madeira e o escritório foi evoluindo, evoluindo…Tínhamos uma estrutura muito pequena e dentro do meu domínio, que é o direito bancário, financeiro, fusões e aquisições, era tudo muito recente. Como se diz na gíria americana: ‘estamos todos na mesma linha de arranque’.
Ao longo dos anos ganhou ou perdeu mais clientes?
O escritório já ganhou e perdeu clientes. Não posso dizer que não tenhamos perdido clientes. Acho que se aprende mais quando se perde um cliente do que quando se ganha um cliente, porque fazemos uma instrospeção sobre o que na verdade correu mal com aquele cliente.
Foi avô há pouco tempo. Mudou as rotinas?
A Amélia [filha de Mariana] é linda e uma das razões da minha boa disposição diária. Como acordo às 6h00 ou 6h30 em Lisboa são 10h30 no Dubai, onde a minha filha Mariana trabalha. Em princípio, envia-me todos os dias um vídeo ou fotografias da minha neta. O meu filho Afonso foi designer mas, hoje em dia, depois do INSEAD, está mais virado para a gestão.
Continua a consultar cartomantes?
Cartomantes já não tenho, mas faço o meu mapa astral. Felizmente, ainda não fui confrontado com uma notícia desagradável mas vou sempre preparado para isso. É uma experiência interessante.
O mapa astral acertou na eleição de Marcelo Rebelo de Sousa para Presidente da República?
Não perguntei. O mapa astral é pessoal e não abrange familiares. Mas confesso-lhe uma coisa: admirei imenso a candidatura do meu irmão. Para o país é um luxo ter alguém como ele Presidente da República – pela qualidade, percurso, isenção e independência. Na altura tive grande perplexidade em relação à candidatura. Não foi para mim uma escolha óbvia e, até muito perto do fim, achava que a vitória não seria tão linear como foi, o que significa que sou mau na política.
Como é o seu dia a dia?
Acordo entre as 6h30 e as 7h00 para nadar e rezar. Leio o Evangelho do dia, adoro os livros do padre Tolentino e outros. Nado meia-hora, mas fumo todos os dias um cigarro à noite, que me faz a maior companhia. E durmo mal se não fumar esse cigarro.
Que balanço faz de 2016, na SRS?
Estamos a festejar os 25 anos de duas realidades: a sociedade Rebelo de Sousa e, coincidentemente, a sociedade Soares Machado. É uma coincidência interessante e uma altura de balanços, como nos casamentos. A fusão aconteceu há cerca de sete anos. Aos festejarmos os 25 anos, não deixa de ser interessante ver o que é que mudou na advocacia. Nós temos um percurso completamente singular. Não há nenhum escritório em Portugal que tenha feito o percurso que a gente fez. Somos o único que foi parceiro, sob a forma de um agrupamento de interesse económico, depois fundiu, mais tarde cindiu e tornou-se independente. Julgo sinceramente – mas posso estar errado – que não conheço nenhum escritório que tenha feito este percurso, que é rico em experiência.
Fizemos um percurso de parceria, de integração, de separação e, agora, de escritório independente. Quando começámos este escritório definimos uma série de princípios, e é curioso ver que esses foram os que marcaram em grande parte estes 25 anos: a especialização. Estou a falar da advocacia da sociedade de advogados, que é um nicho, um universo muito limitado. Ou seja, as sociedades que têm uma estrutura institucionalizada real e não meramente circunstancial. Há colegas que se juntam e têm uma partilha de custos. Dentro destas sociedades institucionalizadas com estrutura societária, nós fomos a primeira a afirmar um princípio de especialização, que aliás nos valeu, há 24 anos, um processo na Ordem dos Advogados. As especializações não estavam ainda reconhecidas. Fomos também os primeiros a afirmar a internacionalização, até pela nossa génese. Tínhamos parceiros estrangeiros. Até a própria Garrigues foi parceira deste escritório durante uma época.
Trabalharam com os espanhóis da Garrigues e depois com os ingleses da Simmons.
Sim. Fomos o primeiro escritório a ser confrontado com a multiprática, ou seja, a possível associação de profissões diferentes, como os advogados e auditores. Porquê? Porque, em 1996, a Garrigues fundiu-se com a Arthur Andersen e nós tomámos a posição contrária e acabámos por adquirir a posição da Garrigues no nosso agrupamento.
Têm alguma iniciativa pensada para comemorar o aniversário?
Temos várias. Vamos ter um ciclo de conferências – uma no primeiro semestre e uma no segundo – que serão anunciadas, e vamos lançar um prémio, que visa premiar os melhores alunos das faculdades de Direito.
Quais são desafios para o futuro?
A especialização trouxe uma realidade, as sociedades de advogados institucionalizaram-se e passaram a ter planos de carreira e a preocupação com a internacionalização, umas mais “palopiana”, outras mais abrangentes. O mundo também está a viver essas tendências. Na internacionalização veem-se fusões, alterações substanciais. Primeiro, a empresarialização da atividade da advocacia traz riscos e já se assistiu nos últimos cinco a dez anos, no mercado internacional, ao desaparecimento e até à insolvência de grandes escritórios. É preciso gerir bem um escritório. Segundo, estamos num mundo digital. Cada vez mais a nossa atividade, como todas, está num universo digital. Há 25 anos um advogado lia diariamente os jornais físicos, antes de começar o dia. Hoje, faz o screen das vossas páginas. Duvido que haja 5% de pessoas que leia fisicamente o jornal. Talvez durante a hora de almoço o abram para ver um artigo ou outro. Depois, toda a parte de gestão de conhecimento, que é fundamental num escritório.
A Inteligência Artificial também vai trazer novos desafios?
Claro que sim. É inevitável. Já não estarei cá. Acho que vai desafiar todo o tipo de atividades. A “comoditização” de certos produtos hoje é uma realidade. Os contratos, as procurações e os documentos estão cada vez mais comoditizados. Usam produtos online. Quantas vezes oferecidos por não-advogados, o que é mau em vários aspetos. É uma tendência que já está a decorrer neste momento. Portanto, há desafios.
Vai haver mais consolidação no setor?
Acho que vai haver arrumações, não necessariamente mais fusões. Sobretudo porque há um muito saudável nascimento de escritórios de nicho, ou que têm propostas de valor atraentes para a clientela, sobretudo as PME. Nós saudamos, porque começámos também com cinco advogados. Claro que concorrem connosco e, muitas vezes, usam dumping de preço, mas cada um usa as armas que pode. Se tiverem princípios éticos e bom serviço, a concorrência cria um ciclo virtuoso e melhora o mercado.
O mercado está cada vez mais concorrencial por causa disso?
Não tenha dúvidas. Sentimos isso por exemplos em termos do valor/hora.
Os clientes estão mais sensíveis a isso?
Muito. Cada vez mais há o sentimento do advogado “parceiro”, aquele que corre algum risco ao lado do cliente. E não aquele que diz: “O risco é seu”. Os últimos tempos da advocacia, o pós-troika, foram desafiantes. Foi a primeira vez em que as sociedades de advogados tiveram de confrontar-se com a crise dos seus grandes clientes e com a crise do país em que opera. Isso mudou o perfil do peso das práticas: aumentou o Laboral e Contencioso, diminuiu o ‘Corporate’ e Fusões e Aquisições, reformulou-se o Financeiro – passou a ser mais numa ótica de reestruturação. E isso teve uma coisa boa: as sociedades foram confrontadas e tiveram de tentar ultrapassar essas dificuldades.
Integraram-se com estrangeiros, aprenderam o que precisavam e depois separaram-se… Acha que o país devia fazer o mesmo? Tivemos estes anos integrados no sistema europeu, com a DGComp, uma série de procedimentos…
Felizmente, o escritório não está no estado do país. Se o país não estivesse no estado em que está era uma possibilidade. Não é a única, mas era um caminho. Na situação em que o país se encontra tenho sérias dúvidas. O país está hoje refém de uma situação que é um pouco complexa porque acabou por ficar à mercê da conjuntura internacional.
Apesar disso, há situações em que poderíamos falar mais “grosso” com Bruxelas, nomeadamente nas questões da banca.
Acho – e é uma crítica que faço ao anterior governo – que a situação da banca foi algo que não foi devidamente acautelado no âmbito das negociações com a troika. Basta ver o caso Banif, o próprio Novo Banco. Não quer dizer que, mais recentemente, este caso da Caixa seja um paradigma de gestão de um processo. Não é. É extremamente inaceitável o que aconteceu na Caixa… Há administração, há falta de administração. A ter um dos principais bancos sem uma gestão correta, sem estratégia e a forma – sem forma e sem conteúdo – como depois decorreu a eleição da primeira administração, o seu afastamento e esta nova administração.
Como vê o papel dos advogados neste processo? Nos últimos tempos tem sido referido nas notícias que os emails divulgados apontam para a existência de um papel interventivo.
Não vou comentar porque não tenho conhecimento claro e inequívoco sobre qual a participação que houve. O advogado naturalmente fez aquilo que o cliente lhe pediu e fez da forma que achou mais adequada. Não tenho conhecimento mais detalhado.
Mas acha que há uma tendência excessiva para entregar a elaboração da lei aos advogados?
Acho que é uma tendência de vários governos, não é deste, e que tem feito escola: a do outsourcing. O que acontece em qualquer país civilizado é que, naturalmente, as partes que querem influenciar o processo legislativo tentam dar contributos ao legislador. Contributos que o legislador leva ou não leva em consideração e que têm em salvaguarda os interesses daquilo que consideram mais adequado e os interesses dos seus clientes, dentro da legalidade e do quadro do Estado de Direito. Julgo que não é positivo quando esse contributo se torna totalmente um outsourcing acrítico. Quando é acrítico acho que pode haver casos como aquele que terá acontecido, mas não tenho a certeza. Não posso comentar o caso concreto. Só leio jornais.
É uma tendência de vários governos, independentemente do partido?
Vários governos. Estamos muito à vontade com o setor público neste escritório, que pesa entre 2 a 4% [das receitas]. Não somos claramente um dos escritórios que são percecionados, justa ou injustamente, como sendo de regime. Porquê? Porque acabam objetivamente por ser os selecionados (provavelmente com muito mérito). Há uma coincidência muito curiosa. Basta fazer o levantamento de quem é escolhido. Já nem entro no método da meritocracia. Não deixa ser curioso serem sempre escolhidos os mesmos.
Há uns que são mais dependentes do poder político do que outros?
É uma evidência. Os números falam por si.
A sua experiência na banca de investimento lá fora ajudou à criação da sociedade?
Ajudou muito. Foi um pontapé de saída muito importante. Estive na banca de investimento, na equipa de negociação de dívidas externas, que o Citibank na altura liderava, os chamados países emergentes, de 1985 a 1988. Quando terminei essa experiência – que foi muito rica – fui trabalhar também numa reestruturação de distressed debts, onde acabei por lidar com a dívida de determinados grupos em Atlantic City. Uma delas estava ligada a um empresário que na altura conheci…
Refere-se a Donald Trump. Que impressão teve dele nessa negociação?
Acho que a impressão não foi extremamente positiva, pela simples razão que o resultado das negociações foi a sua própria insolvência, que foi a primeira. A experiência não foi boa e, como mero observador e com o respeito que nos merece um Presidente que foi eleito democraticamente num país como a América – do qual eu gosto muito -, não seria o meu candidato. Só posso dizer isso. Não me revejo de todo nas linhas políticas que ele tem anunciado, quer em termos das perspetivas para os Estados Unidos, quer para o mundo: xenofobia, nacionalismo exacerbado…
O que o marcou pela negativa?
A forma e o conteúdo. Não me deixou boas recordações. Mas naturalmente eu é que estava errado, porque ele chegou a Presidente e eu não. Também nunca quis ser – aliás, na família esse caso já está resolvido. Nunca quis fazer política ativa, partidária. Acho que existem outras formas de intervir civicamente e tenho feito isso em vários níveis: fundações, atividade associativa, IPCG… A sociedade civil deve ter esse tipo de participação, que é tão ou mais importante. O nosso problema é este: a sociedade sempre viveu muito ‘pendurada’ no Estado. Eu pertenço a uma geração para a qual servir o Estado é uma missão, que exige um compromisso a vários níveis: dedicação, coerência, honestidade. O que se assiste muitas vezes é aquela sensação: “Coitado. Foi para o Governo ou para o Parlamento e ganha mal, portanto, tem de ser ressarcido de qualquer forma porque depois volta à sua vida privada e tem uma situação muito débil”, ou a de “Ninguém quer ir para a política porque tem muita devassa, sobretudo jornalística, e prefere estar na vida privada a ganhar dinheiro”. Esse tipo de paradigma tem de ser mudado no mundo ocidental. Temos de ter uma classe política que esteja mais próxima.
Isso passa, por exemplo, por aumentar os salários dos políticos?
Nomeadamente. Por mudar o estatuto.
Ter menos deputados mas mais bem pagos?
Não tenho dúvidas sobre o tema. É preferível ter gente mais bem paga, mais motivada. Sou contra – sempre fui – profissões liberais poderem aceitar e exercer mandato parlamentar. Acho que é um manifesto de conflito.
É o caso dos advogados.
Há 25 anos que estou a dizer isto.
A medida permitiria ter melhores políticos?
Talvez. Ajudaria com certeza.
Está de saída do Instituto Português de Corporate Governance (IPCG)?
Não estou de saída. Passei a ser presidente do conselho geral, para dar testemunho de corporate governance. Ao fim de dois mandatos na direção acho que deve haver uma sucessão. Para falar tem de haver moral, portanto, quis passar o testemunho ao António Gomes Mota, que era vice-presidente e que tem o maior desafio neste momento que é ultimar com a CMVM o código representativo do primeiro esforço de autorregulação.
RECOMENDADO
Tagus Park – Edifício Tecnologia 4.1
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, nº 71 a 74
2740-122 – Porto Salvo, Portugal
online@medianove.com