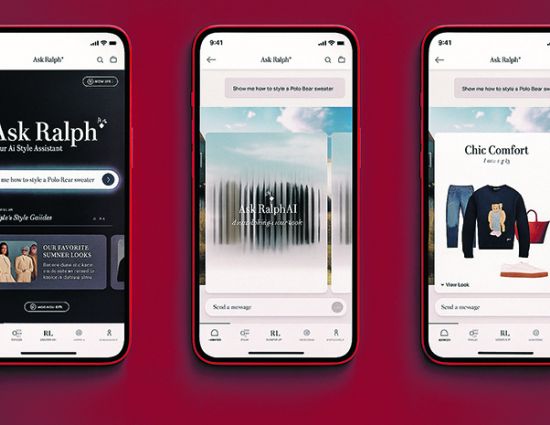Afonso Cruz: “É muito importante não nos conformarmos com a realidade”

O que pensa o ilustrador do escritor?
Comecei pelo desenho e isso foi algo que me acompanhou a vida toda. [risos] Sempre gostei de desenhar e em criança nunca pensei ser escritor, mas ‘banda-desenhista’ ou coisa assim. Mas, na verdade, nunca fiz banda desenhada.
Nunca fez uma incursão pela BD?
Não. Quando era miúdo, tentei fazer uma ou duas pranchas de uma história qualquer que inventava, mas fiquei-me por aí. A literatura é relativamente recente, pelo menos a parte prática. Sempre gostei muito de ler, sempre fui um leitor e talvez por ser um leitor é que me tornei escritor. Vou mais ou menos sendo levado pela vida, não faço planos. No caso do meu primeiro livro, só me apercebi ou imaginei que daria um livro quando estava praticamente pronto. Estava a escrever uma série de textos para o meu blogue pessoal e depois pensei: ‘se calhar isto pode dar um livro…’. Vou experimentar e enviar para uma editora.
Gosta de experimentar, de arriscar?
[risos] Sim, confesso que não tenho muito medo de arriscar. Isso não quer dizer que não tenha os meus receios e temores, mas não são um impedimento. Acabo sempre por fazer o que me apetece e como me apetece. Por exemplo, quando comecei a viajar sozinho – falo de uma viagem ‘a sério’, ou seja, planear uma viagem assumidamente sozinho para um destino que não uma capital europeia –, os receios nunca foram impeditivos.
O que o motivou a fazer essa primeira viagem a solo? Procurava algo em particular?
Houve várias motivações. Ao início, procurava muito culturas indígenas, nómadas. Era o que mais me fascinava em termos sociológicos, filosóficos e religiosos. Tinha a ideia de paraíso perdido e queria conhecer esse universo do ‘homem sem acessórios’, do homem sem telemóvel, do homem que não precisa de demasiados instrumentos para sobreviver.
E o destino foi…?
A Bolívia. Entrei por La Paz, mas o voo de regresso era por Pernambuco, ou seja, do outro lado da América do Sul, no Brasil.
O itinerário foi-se fazendo?
Sim, foi surgindo [sorriso]. Andei à boleia, dormi na rua, viajei num avião militar… Mas fiquei-me pela Bolívia e pelo Brasil.
Foi fácil apanhar boleia de um avião militar?
Era a única maneira que tinha de sair da selva naquela altura, porque demorei muito tempo a chegar lá. Foi uma viagem muito complicada, ainda se descia a “estrada da morte” de autocarro naquela altura. Estávamos na estação seca, por isso tive de mudar umas três vezes de autocarro. E como tínhamos de atravessar uns 30 rios e só dois é que tinham ponte, o autocarro entrava literalmente no leito do rio, mas por vezes ficava atolado. Eles já vão preparados para isso: levam tábuas e conseguem desatolar o autocarro; depois seguimos viagem numa carrinha de caixa aberta… dezenas de pessoas lá dentro. Mas eu fui do lado de fora, sempre a levar com os ramos das árvores em cima, porque eles vão pelas bermas. Por fim, cheguei à reserva dos índios mas, no regresso, achei que a melhor maneira de voltar a La Paz era apanhar um voo.
Uma viagem intensa, portanto.
Sim, tal como me lembro de termos chegado a um povoado a meio da noite, e como não havia iluminação pública, saquei do isqueiro e pus-me à procura de um sítio para dormir. Quando, finalmente, encontrei uma casa que era também uma pensão, os quartos estavam cheios e a dona montou uma rede entre dois postes de eletricidade e dormi ao relento.
Como foi o despertar?
Acordei com as pessoas a passar no meio rua… Foi tudo mal planeado! [risos]
À distância valeu a pena? O que ficou mais na memória?
As pessoas, porque as paisagens têm impacto no momento mas não são o mais importante, depois passam.
Conseguiu captar a essência do ser boliviano?
Nunca tive pretensões de achar que conhecia o país. Aliás, eu vivo há oito anos no Alentejo e ainda hoje me custa perceber uma série de coisas que fazem aquilo que é o Alentejo! Acho que estas passagens muito efémeras por lugares permitem-nos, acima de tudo, contactar com novas maneiras de pensar, de ver o mundo e colocar isso em contraponto com o lugar onde vivemos. No fundo, permite-nos conhecer melhor o lugar onde vivemos.
Viajar contribui de alguma forma para sermos mais tolerantes?
Sim, o facto de compreendermos melhor como se vive em determinados países e sociedades muda radicalmente a nossa maneira de estar. E, claro, é um processo pacificador porque nos dá essa possibilidade de conhecer o outro – de modo superficial, como dizia –, mas tem essa vantagem, de podermos olhar-nos à distância e de sairmos um pouco do mundo onde vivemos, das nossas rotinas, hábitos, etc.. Uma coisa que acontece automaticamente quando se faz este tipo de viagem é que deixamos para trás tudo o que nos é garantido: não sei onde é que vou dormir, comer. Além disso, deixamos os amigos, os lugares que conhecemos. Tudo passa a ser diferente e voltamos a focar-nos nas coisas que são essenciais à nossa sobrevivência. E todos aqueles pequenos problemas que nos pareciam gigantes quando estávamos no lugar da nossa rotina, de repente, esboroam-se, são relativizados [risos].
É importante sair da zona de conforto?
Sim, é muito bom este afastamento e retorno, porque vamos fazendo um percurso hegeliano de tese-antítese e síntese. Afastamo-nos e vamos percebendo que há outras coisas e quando regressamos vemo-las de maneira diferente. Vamos aprendendo mais coisas, vamos trazendo outras connosco e vamos olhando a vida também de uma forma diferente. Mas, claro, o voltar acaba sempre por ser importante.
‘Voltar’ remete para o universo que conhecemos, para a família. Um dos seus livros, “O Pintor Debaixo do Lava-loiças” inspira-se na história de um pintor eslovaco, que chegou a viver escondido debaixo do lava-loiças do seus avós paternos. Tiveram um papel importante na sua infância?
Sim, eu tinha uma empatia muito grande com a família do meu pai, especialmente com o meu avô e com os irmãos dele. Era uma família muito sui generis e carismática. O meu avô foi preso algumas vezes… e cheguei a escrever um romance baseado nessa história que viveram [do pintor eslovaco]. A casa deles mais parecia um museu, pois tinha imensas coisas do meu bisavô, que viveu e morreu em África. Nasceu pobre, mas enriqueceu, fez fortuna. Quando morreu, a família perdeu tudo no espaço de dois anos. O meu avô teve de ir trabalhar aos 12 anos. E há também a minha avó, que era uma mulher muito especial! Casou-se por duas vezes e perdeu o filho do primeiro casamento… O marido era um homem que estava envolvido com a Carbonária e traficava armas. Bem, na verdade, ela também. Além disso, conduzia e tocava guitarra [fado]. Enfim, era uma mulher moderna. Nasceu em 1904 e viveu 99 anos. Teve uma vida muito preenchida!
O segundo casamento, com aquele que veio a ser o seu avô, foi mais calmo?
Nem por isso, porque ele não era um homem acomodado. Também era um resistente e tinha uma loja de fotografia, que usava para passar informações. Era fotógrafo e os irmãos também tinham o seu ‘quê’. Um deles, na década de 30 do século passado, foi pioneiro da aviação. Fez a primeira viagem aérea para vários países africanos e chegou, inclusive, a Timor. Chamava-se Humberto da Cruz.
Com esses “antecedentes”, alguma vez lhe passou pela cabeça dizer ‘quando for grande quero ser piloto’?
Não, nunca me passou pela cabeça. Talvez porque não vivi nem lidei diretamente com isso. Era mais fácil pensar que queria ser fotógrafo, porque tinha esse exemplo todos os dias. Convivia regularmente com máquinas fotográficas e laboratórios de fotografia.
O seu avô incentivava-o a fotografar?
De alguma maneira, sim. Gostava de ir para a loja do meu avô e ficava lá muito tempo. Aprendi muito e ele deixava-me andar com umas máquinas mais antigas, apesar de na altura as máquinas não terem uma obsolescência como a que têm hoje. Por exemplo, uma máquina comprada em 1970 podia durar cem anos ou mais e não ficar propriamente ultrapassada. No fundo, acabei por conviver com todo este ambiente e, quando frequentei a António Arroio, acabei por ter uma série de disciplinas ligadas à fotografia, como a físico-química aplicada, e mais tarde, nas Belas-Artes, também. Mas houve alturas em que me ‘divorciei’ da fotografia. Quando viajava, por exemplo, não levava máquina comigo e durante muito tempo não fotografei. Penso que era uma ideia romântica de juventude: quero lembrar-me das coisas que verdadeiramente me marcaram e não como a máquina fotográfica as capta. Isto por um lado, mas também havia a questão de ser mais prático e de não ser logo rotulado de turista. Não deixava de sê-lo, obviamente, mas passava uma ideia de quem já estava “lá” há algum tempo e não de uma pessoa que acabara de chegar.
Já fez as pazes com a fotografia?
Sim, aos poucos fui fazendo as pazes e agora gosto muito de tirar fotografias. Mas é também um pouco como as relações humanas. Às vezes precisamos de distância e afastamo-nos, depois reatamos… E não foi só com a fotografia, também já aconteceu isso com o desenho. Sempre tive uma relação muito próxima e intensa com o desenho, mas houve pelo menos duas alturas da minha vida em que o rejeitei. Por exemplo, quando cheguei ao 10º ano, não quis continuar em Artes e quis mudar para Filosofia. Os meus pais não me deixaram, porque achavam que eu devia ser um artista. Diziam que quando tivesse 18 anos, se quisesse voltar atrás, voltava. Isso não aconteceu, porque achei que não fazia sentido voltar atrás três anos.
Isso quer dizer que os seus pais estavam certos?
A verdade é que eu não tinha uma relação assim tão forte com o academismo. Além disso, naquela altura eu já não tinha muita paciência para aprender algumas linhas filosóficas com as quais tenho menos empatia. Ou seja, teria de estudar filósofos que não me agradavam particularmente e isso seria um esforço. Ora, a minha ideia de mudar de curso não era para ser um esforço, mas sim um prazer. Essa foi a minha primeira ‘má relação’ com o desenho; a segunda foi quando comecei a trabalhar como animador [em desenhos animados] e, nessa altura, passei a sentir o desenho como uma profissão. O prazer que sempre tinha tido a desenhar mudou.[sorriso] Tinha de fazer os desenhos que era obrigado a fazer e não aqueles que me apetecia fazer, e isto durante oito horas por dia! No fundo ganhava o meu dinheiro para poder viajar, o que, na altura, era o que me dava gozo. Funcionava como uma espécie de antídoto.
Há grandes diferenças no processo criativo de um escritor-ilustrador-músico-cineasta?
Nem sequer é muito diferente. A linguagem gráfica e o estilo são um pouco como a escrita. Tem a ver com a fruição que retiramos de cada “área”. Bem, nós temos um limiar máximo quando fazemos uma dada ‘coisa’. Ou seja, eu tenho uma capacidade limitada – que é a minha – de avaliar aquilo que faço. É o meu sentido crítico, não posso ir ao futuro, onde provavelmente aprendi mais coisas e me tornei mais culto, e olhar para o lugar onde estou…
Ouve música enquanto escreve ou desenha?
Normalmente não ouço. Para ilustrar não me importo, se estiver em acabamentos. Mas se for algum desenho com alguma dificuldade de execução, prefiro o silêncio. Mas, na realidade, e para ser franco, escrevo em qualquer contexto, às vezes até em situações incómodas. Às vezes estou na fila do supermercado e tenho uma ideia, tiro o telemóvel e tomo notas. Aliás, um escritor de ficção científica dizia que há duas regras para escrever. O que tem muita graça, porque funcionam. A primeira regra é escrever e a segunda é acabar aquilo que se escreve. A primeira é óbvia e a segunda não tem a ver com preciosismo, mas com a conclusão de uma tarefa, porque há muita gente que gostava de escrever um livro mas nunca começa. Escreve um capítulo, por exemplo, que vai corrigindo e vai melhorando, melhorando, melhorando, melhorando, melhorando… e passa um mês a melhorar o primeiro capítulo e, quando chega ao fim, aquela história já não lhe diz nada e o que tem é um capítulo muito bonito e nada mais. Nas oficinas de escrita refiro sempre um aspeto que acho muito importante: antes de começar, as pessoas pensam muito na situação ideal. Gostava muito de ter a secretária tal para começar a escrever, gostava de ter determinado tempo para escrever, etc., e eu explico que as condições ideias não existem. É apenas uma desculpa para adiar. Ou queremos ou não queremos.
É verdade que escreve o início e o fim e só depois desenvolve a história?
Digamos que é a coisa mais básica do mundo. Digamos que os escritores se podem dividir em dois grupos: o escritor que se senta em frente ao computador ou a um papel, que começa a escrever e vai andando por ali, simplesmente. Podem sair coisas maravilhosas ou coisas horrorosas. E depois há o escritor que planeia, e também aí podem sair tanto coisas maravilhosas como horrorosas. Mas o escritor que planeia, pensa na história e, automaticamente, tem um final. Se eu tenho uma personagem e uma situação confortável, não há tensão, logo não há uma história, não acontece nada. Isso quer dizer que tenho de colocar a personagem numa situação de tensão e a resolução dessa tensão ou desconforto é o final do livro. Nos workshops de escrita dou sempre o exemplo do copo de água. Tenho uma pessoa num determinado lugar. Tem sede, isto é, desconforto. O final da história é o copo de água. Que eu posso dar ou não dar. Ou melhor, a personagem pode conseguir ou não o tal copo de água, depende se quero um final mais trágico ou feliz. Se lhe der o copo de água, não tenho história. Ou seja, tenho de impedi-lo de chegar ao copo de água. Quando tenho essa premissa inicial, nem sequer tenho de pensar muito para ter um final.
Os títulos dos seus livros também não são deixados ao acaso.
Normalmente nascem logo ao princípio. Por exemplo, “O pintor debaixo do lava-loiças” era quase auto-evidente para mim pela natureza da história. Foi esse o episódio que me levou a escrever o livro. “A Boneca de Kokoschka” também é uma metáfora do livro. “Os livros que devoraram o meu pai” é auto-explicativo. No caso do meu último livro, “Nem Todas as Baleias Voam”, o processo foi mais difícil, mas no fim percebe-se o título. O que não quer dizer que isso aconteça sempre em Literatura. Há títulos que não sabemos explicar porque estão lá, como o “2666” do Bolaño. No meu último livro, o título não me saiu com a facilidade com que é costume…
A habituação a um título é importante?
Sim, porque quando o título surge no fim, não é familiar a ninguém. E depois acabamos por dar um título, e outro e mais outro e todos soam mal porque não nos é familiar, não tivemos tempo para nos habituarmos a ele. No meu último livro, “Nem Todas as Baleias Voam”, o título encerra uma espécie de contradição e tem a ver com uma coisa que eu acho muito importante, que é não nos conformarmos com a realidade. Os livros de auto-ajuda tentam impingir-nos uma felicidade assente na lógica do ‘deves contentar-te com aquilo que tens, não deves desejar mais’, ou seja, transmitem a ideia de que as pessoas que estão em constante desassossego são mais infelizes. E provavelmente até são mais infelizes… Mas, se fôssemos um pouco mais infelizes, seríamos todos um pouco mais felizes. Na realidade, se todos nos sentirmos felizes e confortáveis com o pouco que temos, começa a ser perigoso. Por exemplo, um dia, de repente, alguém violenta o nosso vizinho e ninguém reage porque está bem com o que tem. O perigo reside em ficarmos indiferentes para com o outro porque estamos contentes com o que temos. ‘Eu não estou feliz, porque o outro não está feliz’ – temos de desejar mais para também desejarmos uma sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada e isso exige trabalho, luta e acima de tudo desconforto.
Podemos dizer que a cultura é um bem de primeira necessidade?
Digamos que ninguém filosofa de barriga vazia, mas, por outro lado, também não sobreviveríamos sem cultura. Sem criatividade não haveria nada: mesas, cadeiras… nada daquilo que nos caracteriza como ser humano. Tal como cozinhar os alimentos, pressupõe ter utensílios para o fazer. Ora, foi graças à criatividade e ao engenho que passou de geração em geração e ao seu desenvolvimento que o homem sobreviveu. Isso é um processo educacional e cultural. Somos o que somos precisamente graças à cultura.
Acredita em Deus?
Não há uma resposta fácil para isso… [sorriso] Depende do que se quer dizer com essa pergunta, pelo que é difícil responder de uma forma taxativa. Provavelmente, se estivesse a falar com um católico, ele diria que sou ateu. Se estivesse a falar com um ateu, provavelmente diria que sou crente. Na verdade, tenho alguma dificuldade em negar perentoriamente o que quer que seja, porque isso me coloca num lugar demasiado sobranceiro. Há coisas que nunca vou poder provar que não existem. Posso dizer como Laplace que “não tenho necessidade dessa hipótese”. E, efetivamente, posso não ter necessidade dessa hipótese, logo, posso prescindir da ideia de Deus. Aceito isso perfeitamente. Agora, o negar já implica provas. E provar que uma ‘coisa’ não existe é impossível. Posso provar que determinadas características que se atribuem a Deus poderão não ser consentâneas com outras que lhe são atribuídas, mas isso não prova a sua inexistência. Isto pode levar-nos às coisas mais idiotas do mundo, mas isso não quer dizer que elas não existam. Há imensas coisas destas em ciência. Por exemplo, a matéria escura não é detetável a não ser pelos seus ‘sintomas’. Servem para explicar determinadas coisas que acontecem no universo e, curiosamente, até são 96% do universo e nunca foram detetados. Ou seja, neste momento não passam de uma teoria. Isto para dizer que é muito difícil negar alguma coisa, por mais estapafúrdia que nos possa parecer. Negar implica uma posição onde normalmente não quero estar. Prefiro outras teorias em que é muito mais provável estarem corretas e que possam dar algum contributo para a Humanidade.
Ter tempo e poder ser lento é algo que valoriza?
Nós achamos que estamos sempre a ser solicitados por isto e aquilo. Ora, um indivíduo na selva tem as mesmas solicitações que nós: o som de um inseto, o ruído de uma ave, as folhas que se agitaram aqui ou além, o som da água, etc. Há todo um conjunto de sons que é preciso interpretar o tempo todo. Um pouco como isto [aponta para o telemóvel sobre a mesa]. A Joana Bértholo tem um livro muito bonito intitulado “Inventário do Pó”, e um dos contos começa mais ou menos assim: não sabemos distinguir entre o som de um grilo e de uma cigarra, mas hoje em dia todos reconhecemos o som de um Windows e de um McIntosh a iniciar. Além de estarmos muito desfasados da natureza, o que ela quer dizer é que reagimos a outro tipo de chamamentos e parece-nos imensa coisa. Mas se vivêssemos no meio da natureza, também estaríamos rodeados de inúmeros chamamentos e informação! [sorriso] Em relação à rapidez/lentidão, ocorre-me que o Leonardo da Vinci levava 15 anos a pintar um quadro e o Van Gogh pintava três quadros numa manhã. A velocidade ou a lentidão não é melhor nem pior. Não tem a ver com a qualidade. Mas é verdade que antes as pessoas se preocupavam mais com a durabilidade das coisas; hoje não é tanto assim.
Nasceu e cresceu na Figueira da Foz, viveu em Lisboa e tem viajado pelo mundo. Há oito anos mudou-se para o Alentejo. Essa escolha continua a fazer sentido?
Sempre imaginei que gostaria de viver no campo e quando comecei a procurar casa, percebi que era mais barato no interior do que no literal. Isso e a possibilidade de encontrar uma casa mais ao meu gosto, espaçosa. Talvez pelo Alentejo ser uma região mais pobre esteja menos estragada arquitetonicamente, ou seja, não sofreu o boom da construção doas anos 60 e 70, e como tal, agradou-me o facto de não estar adulterado. Hoje em dia, também já é possível deslocarmo-nos facilmente, por isso, diria que foi uma escolha pragmática. E consigo fazer uma vida algo semelhante à que faria em Lisboa, porque há centros urbanos relativamente cosmopolitas que estão bastante próximos. Hoje, as distâncias em Portugal são relativamente curtas e, além do mais, sabe muito bem termos a possibilidade de nos podermos refugiar num ambiente calmo. Aliás, conto sempre a história de um tipo que conheci na Hungria. Era mexicano e vinha de Itália, e fiquei a saber que era professor. Perguntei-lhe onde vivia e onde dava aulas, e ele disse o nome de duas cidades mexicanas. Como não conhecia perguntei-lhe se ficavam muito distantes uma da outra, ao que ele respondeu que tinha muita sorte porque “eram só duas horas de avião” [sorriso]. Para ele não havia problema, duas horas de avião era um instantinho! A nossa noção de interior é muito curiosa, porque para um brasileiro, por exemplo, dizer que moro no interior e que estou a hora e meia da costa, quer dizer que moro no litoral e não no interior. É tudo muito relativo.
A Internet e as redes sociais esbateram a geografia. É ativo no Facebook? É um bom veículo para interagir com os leitores?
Não sou propriamente ativo no Facebook e há anos que não atualizo a minha página pessoal. São os leitores que vão pondo lá coisas. Todos os dias há algo novo… Também tenho uma página ‘oficial’, que criei porque pensava que podia apagar a pessoal, mas isso não é possível… Foi um tiro no pé! Enfim, acabo por pôr um post de dois em dois meses, ou de três em três, na melhor das hipóteses um por mês. Mas acabo por não interagir porque me sinto obrigado a uma certa justiça, e se respondo a um leitor devo responder a todos, por isso respondo apenas às mensagens privadas, que são muitas, e faço-o quando posso! [sorriso]
RECOMENDADO
Tagus Park – Edifício Tecnologia 4.1
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, nº 71 a 74
2740-122 – Porto Salvo, Portugal
online@medianove.com