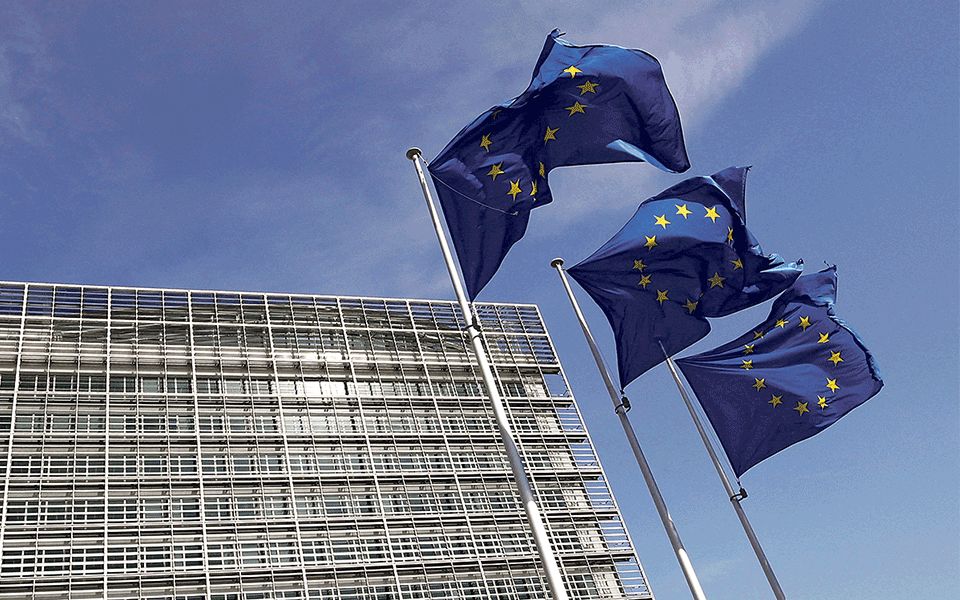“Resposta orçamental europeia foi demasiado modesta, durante a pandemia e agora”

A resposta da Europa à crise pandémica tem sido mais fraca do que a de outras regiões, não só durante a pandemia, mas também agora, no processo de recuperação. Eis a leitura do economista português Miguel Faria e Castro, que integra a Divisão de Estudos do Banco da Reserva Federal de St. Louis, no estado norte-americano do Missouri. Em entrevista ao Jornal Económico, diz que Portugal tem uma oportunidade com os fundos europeus, porque receberá relativamente mais dinheiro. Agora, é necessário que o país consiga executar os projetos e não esqueça outros problemas, colocando especial ênfase na Justiça e na eficácia da Administração Pública.
Que aprendizagem fica da crise pandémica que estamos a atravessar e que mudanças vão tornar-se permanentes?
Em termos do que pode mudar e daquilo que eu acho que foram as mudanças mais permanentes e que esta situação trouxe, destaco o trabalho e o comércio remotos. Eram tendências que já existiam – há estatísticas que mostram que havia uma tendência, ainda que lenta, em direção ao trabalho remoto, e a tendência no comércio digital era, também, bastante clara –, mas esta situação motivou uma aceleração drástica destas tendências e penso que estão para ficar.
O comércio remoto, por exemplo, aqui nos EUA é muito importante e tem muitas consequências tanto económicas como sociais. Traz conveniência, mas está associado à destruição de muito comércio mais local.
No trabalho remoto, temos muitos empregos, bem pagos – normalmente são pessoas mais qualificadas, com empregos mais bem pagos, que tendem a ter maior facilidade em trabalhar remotamente –, que antes estavam muito concentrados em determinadas zonas – em que o exemplo clássico é São Francisco, com muitos empregos de tecnologia ali concentrados – e, agora, assistimos a uma grande deslocalização desses empregos para outras partes do país e, se calhar, para partes do país em que as coisas não estavam a correr tão bem economicamente, como zonas do Midwest, como esta onde estou, em St. Louis, [no Missouri], e também zonas das Montanhas Rochosas, onde há movimentações para cidades como Boise, no Idaho, ou Salt Lake City, no Utah. Isto pode ter efeitos positivos, porque estamos a deslocalizar pessoas com rendimentos disponíveis elevados para zonas que estavam economicamente mais deprimidas, o que, obviamente, vai estimular um pouco a economia local.
O atual enquadramento global é marcado pela pandemia, mas também por uma maior tensão geopolítica. É possível repetirmos uma situação idêntica à da Guerra Fria, apesar da integração das economias ser muito diferente do que era nessa época, ou assistiremos a uma contração ou amenização dos movimentos de globalização?
Sim. Tanto a anterior administração [norte-americana] como a atual têm uma atitude diferente para com o comércio livre e o comércio internacional do que outras administrações tiveram. Há maior ênfase no “buy american” e no “vamos trazer a indústria de volta para os EUA”, que é uma retórica muito diferente daquela que tanto republicanos como democratas tinham, por exemplo, nos anos 90. Há, certamente, uma tendência para desglobalizar um pouco. Também, todos os problemas de cadeias de abastecimento que esta crise gerou trazem ao de cima o facto de isto não ser apenas uma questão económica, mas também de segurança, nacional ou do bloco [comercial] em que os países se inserem.
O facto é que as economias, principalmente a norte-americana e a chinesa, estão tão interligadas, neste momento, que acho difícil que haja um colapso das relações económicas entre estas duas economias sem que ambas percam bastante. No fundo, os governantes que estão a gerir a política comercial sabem disto.
No início da pandemia, várias pessoas perguntavam-me se achava que a China ia ser a grande vencedora desta situação e eu respondia sempre que, no curto prazo, talvez, mas que no longo prazo seria mau para eles, porque precisam dos EUA e da Europa para lhes comprar produtos. É um benefício para a China ter as economias americana e europeia a comprar.
É uma situação delicada, mas, como diz, temos tensões geopolíticas que nos fazem lembrar a “guerra fria”, mas temos uma situação de comércio e de integração das economias que é completamente diferente.
Onde vê a Europa, não só neste quadro, como na recuperação da crise pandémica?
Penso que têm feito o melhor possível, dadas as circunstâncias e as restrições. A política económica na Europa é, naturalmente, muito mais complicada do que a política económica nos EUA, porque a Europa não é uma federação, não tem uma autoridade federal que, principalmente, centralize a política orçamental; e aquilo que tem sido mais ou menos consensual entre economistas é que a política orçamental desempenhará um papel bastante importante na recuperação desta crise.
Aquilo que estamos a ver é que a resposta da política orçamental da Europa foi demasiado modesta, tanto durante a pandemia como agora, na recuperação.
No ano passado, por exemplo, havia muita gente a comparar a resposta estatal à pandemia entre os EUA e a Europa e a resposta orçamental norte-americana era de uma ordem de magnitude superior. Havia muita gente que dizia que a razão pela qual os EUA estavam a gastar mais é porque têm um sistema de welfare state, um sistema de segurança social, substancialmente mais fraco do que o europeu e, portanto, como as pessoas precisam de dinheiro, de rendimento disponível, estavam a enviar cheques às pessoas. Na Europa não precisamos disso, porque temos sistemas muito mais fortes e subsídio de desemprego.
O facto é que, em termos agregados, parece que a proteção social funcionou um pouco melhor nos EUA do que na Europa. Em termos reais per capita, o rendimento disponível cresceu 4,8% nos EUA em 2020, o que é extraordinário, enquanto na Europa, em termos agregados, no final de 2020, o rendimento disponível das famílias tinha caído 0,5% na União Europeia.
Em termos agregados – e, obviamente, há aqui muitas fragilidades que estou a ignorar –, a política orçamental norte-americana fez mais para ajudar as famílias do que a política orçamental europeia. Agora, na recuperação, isto é importante, porque temos a noção de que a economia está a reabrir e as pessoas nos EUA têm muito rendimento disponível. Temos aquilo que as pessoas aqui [nos EUA] referem como procura acumulada, pessoas que têm dinheiro, mas que não têm onde gastar esse dinheiro, porque a economia está fechada, e agora, quando a economia reabrir, vão começar a gastar esse dinheiro. Portanto, vamos ter uma retoma que é bastante impulsionada pela despesa privada e, por cima disto, temos o american rescue plan [plano americano de recuperação], que são 1,9 biliões de dólares, que é uma resposta orçamental enorme. Temos, em princípio, fatores que vão permitir uma recuperação sustentada, tanto pelo lado da despesa privada, como pelo lado da despesa pública.
E na Europa?
Na Europa, temos o rendimento das famílias muito mais deprimido, com uma quebra muito maior do investimento, pelo que, não me parece que a recuperação venha do lado da despesa privada. Logo, esperaríamos que viesse da despesa pública. Há o Next Generation EU, que é muito mais modesto do que qualquer coisa que os EUA têm feito, e, depois, temos um problema adicional, que é a questão de haver, de certa forma, instituições europeias como o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), que impõem incentivos relativamente perversos ao estímulo orçamental. Isto está a ver-se de forma clara em Portugal. Temos a União Europeia (UE) a dar-nos imenso dinheiro a fundo perdido; como resultado, em termos discricionários, o Governo não planeia gastar um cêntimo – obviamente que isto é um exagero – na retoma. Ou seja, a autoridade federal gasta e, em resposta, as autoridades orçamentais nacionais gastam menos ou deixam de gastar.
Estes incentivos existem, de certa forma, nos EUA, ao nível dos estados, mas a política orçamental estadual é muito menos importante do que a política orçamental nacional para os estados na Europa.
A revisão das regras do PEC já devia ter sido iniciada?
Sim, completamente. Uma de duas coisas tem de suceder: ou a UE faz mais e mantém as regras ou levanta essas regras e diz aos estados para fazerem mais; mas o que vai acontecer, na prática, é que nenhuma vai concretizar-se e o estímulo orçamental total vai estar abaixo do que vai estar noutras partes do mundo.
Como vê a capacidade de recuperação da economia portuguesa? Quais são as principais condicionantes?
A economia portuguesa está bastante exposta aos sectores que mais sofreram com esta crise. O turismo, ao ser um sector bastante importante tanto para emprego como para exportações é, naturalmente, um problema. No caso de Portugal, pelas contas que fiz, o estímulo orçamental é mais ou menos proporcional à queda do PIB [produto interno bruto] que tivemos em 2020. A dimensão do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] em relação à economia portuguesa é maior do que a dimensão total do Next Generation EU em relação à economia da zona euro. Nesse aspeto, Portugal tem a oportunidade de as coisas correrem melhor do que noutros países da Europa. Mesmo assim, outro problema é a alocação da despesa do PRR. No geral, acho que algumas das prioridades do PRR fazem sentido. O problema que se tem verificado em Portugal nas últimas décadas é que vem muito dinheiro da UE que não é executado. O facto de estarmos a receber todos estes fundos, não quer dizer que estes fundos vão ser gastos. É possível, infelizmente, que tenhamos de enviar parte deste dinheiro para trás. É tanto culpa nossa como deles. Nossa, porque, no geral, somos maus a encontrar projetos onde podemos executar muitos desses fundos, e deles na medida em que por vezes criam critérios que são demasiado apertados; tendem a gerir demasiado a alocação desses fundos.
Deveria haver uma flexibilização desses critérios?
Sim, principalmente numa situação destes. Compreendo que em termos de fundos estruturais tem de haver critérios relativamente restritos para a aplicação desses fundos, senão é muito fácil desperdiçar. Agora, estamos numa situação em que o Governo precisa de gastar e precisa de gastar rapidamente. Pode não fazer sentido estar a aplicar os mesmos critérios num programa extraordinário numa circunstância extraordinária.
Toda a gente acha que a transição digital é boa, que a transição climática é boa, mas os detalhes de como essas coisas são feitas são bastante importantes. Podem acabar por ser coisas em que os fundos são completamente desperdiçados.
O PRR tem de responder a critérios muito específicos da UE. Acha que os investimentos previstos não são os mais adequados para concretizar esses objetivos?
No geral, em termos de áreas e objetivos do PRR, parece-me tudo bem, mas há coisas em relação às quais sou um bocado cético. Dão muito ênfase em investir no aumento da capacidade industrial do país, quando, enquanto país, não temos um ótimo track record [um registo] em termos de política industrial.
Há coisas que são importantes; as questões da transição digital e climática são bastante importantes e são duas grandes oportunidades para o país. Portugal tem algum potencial nessas áreas. Na transição climática, somos um país que tem ótima situação para energias renováveis e temos todas as condições para sermos pioneiros. Na transição digital, somos um país que, em alguns aspetos, está à frente de outros países, como os serviços públicos de interação direta com o cidadão. Depois, temos outras falhas gritantes, principalmente a nível de funcionamento interno da Administração Pública, que é extremamente ineficiente e muito pouco digitalizada.
De que forma poderia a economia portuguesa tornar-se mais competitiva?
Aquela que parece ser uma preocupação recorrente é o funcionamento da justiça. Tanto a celeridade, como a eficiência. Portugal tem uma carga fiscal relativamente elevada e é um país onde os impostos, em média, não são muito elevados, mas são muito progressivos. Não é preciso ganhar-se muito dinheiro para estar a pagar uma taxa relativamente elevada de imposto, o que tem a ver com várias razões. Portugal é um país desigual, relativamente pobre, mas no debate público as pessoas tendem a fixar-se demasiado nas taxas estatutárias de impostos e a ignorar que há muitas coisas que são impostos implícitos para a atividade económica em Portugal. O funcionamento da justiça e da administração [pública] são dos impostos mais importantes. Parece que há muitos problemas sobre como entidades privadas não conseguem lidar com determinados aspetos da administração pública. Acho que há muita discussão sobre se o Estado deveria ser maior ou mais pequeno em Portugal, mas mais importante do que isso é mantendo o tamanho do Estado constante, tornar o Estado mais eficiente.
Com a recuperação do turismo, que tem tanto peso no PIB português, tão incerta, é altura de pensar em como reestruturar a economia para não ser tão dependente deste sector?
Sim, na medida em que é um sector que, se a pandemia se tornar uma coisa recorrente, é um sector que se torna extremamente volátil. Não queremos ter todos os nossos ovos só naquele saco que de dois em dois anos vem a raposa e come. É um sector bastante volátil e que não requer mão de obra muito qualificada, o que altera os incentivos de quando chega a hora de as pessoas se qualificarem, o que pode ter custos sociais para o país.
Por outro lado, não. Sou cético em relação à política industrial e a ter o Estado a dizer que nos devemos focar neste sector e não naquele. O Estado deve deixar os privados fazerem o que querem e investir nas áreas em que acham que pode gerar valor acrescentado e isso depois levanta o resto da economia. Outra razão pela qual o turismo é importante e vai continuar a ser importante é que Portugal é um país com uma condição fantástica em termos de turismo. A tendência que tínhamos pré-pandemia é que com o crescimento de classes médias em países como a China ou a Índia estávamos a ter uma explosão da indústria global do turismo. Não faz sentido não estarmos a aproveitar, quando temos vantagens comparativas.
As medidas adotadas para proteger o emprego, como o ‘lay-off’, parecem ter impedido uma quebra mais abrupta do mercado de trabalho em Portugal. Como avalia estas medidas?
Estas medidas eram absolutamente essenciais. A economia portuguesa e as europeias no geral têm mercados de trabalho muito menos dinâmicos do que o americano. Torna-se muito mais importante manter as relações entre trabalhadores e empregadores. Se essas relações são destruídas num país como os EUA, o número de desempregados aumenta muito, mas quando a economia recuperar há imensa criação de emprego; num país como Portugal, com um mercado de trabalho muito mais estagnado, isso não é tão claro e se se destroem imensos empregos de uma vez vamos demorar muito mais tempo a criar novamente esses empregos. Dada essas diferenças nas dinâmicas do mercado de trabalho, faz muito mais sentido que na Europa se tivesse apostado mais em tentar preservar os postos de trabalho, porque se fossem destruídos não era claro quando regressariam.
O lay-off fez bastante sentido e impediu um aumento enorme da taxa de desemprego em Portugal. Agora, o principal desafio é quando é que deveremos levantar essas medidas de lay-off. É uma questão muito complicada e que vai depender do sector específico e da evolução da pandemia e do resto da economia.
RECOMENDADO
Tagus Park – Edifício Tecnologia 4.1
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, nº 71 a 74
2740-122 – Porto Salvo, Portugal
online@medianove.com