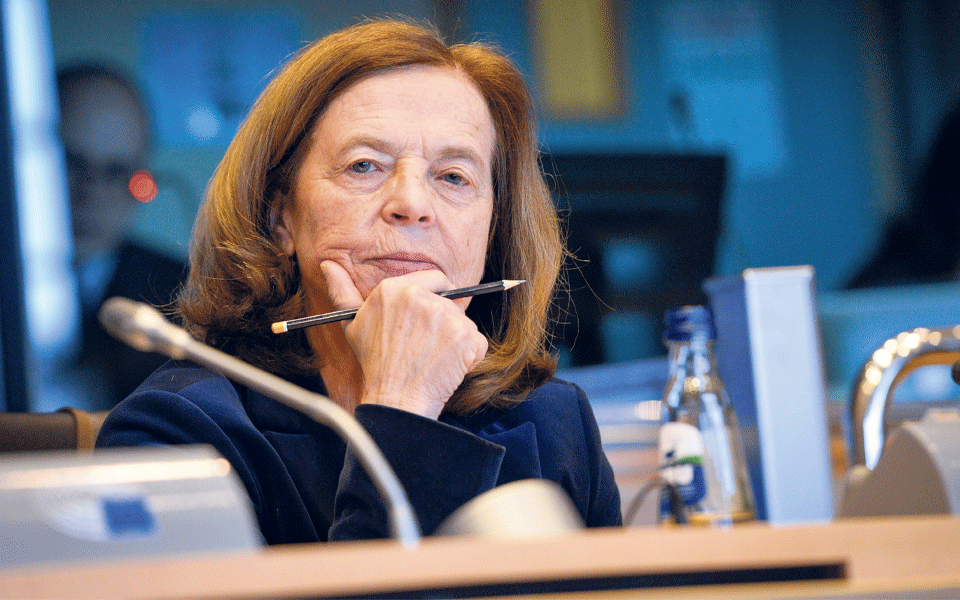“Foram os bancos a criar o problema do malparado. Agora têm de ser eles a resolvê-lo”
Foi anunciada recentemente a plataforma do malparado. Há reticências quanto à eficácia deste instrumento porque há diferentes abordagens ao risco de cada um dos bancos. Acredita que vai de facto funcionar?
A plataforma não é uma criação do Governo nem do Banco de Portugal, é um entendimento entre os três bancos que têm maior volume de crédito malparado – BCP, Novo Banco e CGD – que acordaram transferir a gestão desses créditos quando houver exposição cruzada de dois ou mais bancos face ao mesmo devedor. Essa plataforma negoceia em nome dos três bancos com cada devedor. Se há coisa que a plataforma faz é resolver precisamente essa questão. Não há aqui uma solução semelhante à que foi utilizada em Espanha ou Irlanda, de um ‘banco mau’. Neste momento qualquer bail out com dinheiro público teria impactos orçamentais muito significativos.
Mas esse cenário chegou a ser estudado, ou não?
Um ‘banco mau’ só poderia ter sido feito durante o Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), porque implicava uma injeção massiva de dinheiro público na compra de malparado aos bancos, ao valor a que ele estava no balanço. Foi o que se fez em Espanha e na Irlanda. Mas esta solução só poderia ter sido feita durante o PAEF.
Fechado o programa, só há duas soluções possíveis: uma é o famoso AMC (Asset Management Company, um veículo de malparado) e a outra é esta plataforma. A possibilidade de um veículo foi-nos apresentada por diversas empresas financeiras e o que sempre dissemos foi que estamos disponíveis para conceder uma garantia soberana em condições de mercado, fora de ajudas de Estado. Apresentem uma estrutura, convençam a DGComp que não há ajuda de Estado – estamos disponíveis para ir convosco à DGComp ter essa reunião –, convençam o Single Supervisory Mechanism (SSM) de que é uma solução sistémica, e que é aceite, e arranjem bancos interessados.
E não se conseguiu nada disso?
Conseguiu-se ir à DGComp com um mecanismo que não tinha ajuda de Estado, mas os bancos sempre consideraram que essa solução seria muito cara, que iriam perder muito. Preferem ser eles a recuperar. Nunca se chegou ao SSM. A ideia, do ponto de vista conceptual, é muito excitante, mas do ponto de vista prático, a posição dos bancos é claramente que preferem recuperar o crédito internamente. Os três maiores bancos têm neste momento condições para, usando a plataforma, coordenarem-se e venderem os ativos, reestruturar as empresas, fazerem o que considerarem mais eficiente, tendo tempo e capital. A partir de agora é questão de se entenderem. E há aqui uma questão fundamental. O problema do crédito malparado foi criado pelos bancos, com uma má avaliação do risco de crédito. Aquilo que foi feito até agora, de injeção de capital nos bancos, já foi muito substancial em termos de dinheiro dos contribuintes. A partir de agora, são os bancos que têm de resolver o problema.
No Novo Banco há dúvidas sobre o envolvimento futuro do erário público, num cenário mais adverso. O PCP já chamou o ministro ao Parlamento para explicar o que poderá acontecer em termos de garantias. Pode dizer-se que, neste caso, o Estado não irá comprometer mais dinheiros públicos?
No Novo Banco há um conjunto de ativos que permaneceram no balanço e que eram de difícil avaliação. Num processo de venda e de negociação foi necessário definir um mecanismo relativamente a esses ativos. Não há uma garantia do Estado, há um conjunto de ativos que foram colocados de lado e, se tiverem desvalorizações que ponham em causa os rácios de capital do banco, então o Fundo de Resolução injetará capital para que esse conjunto limitado de ativos não ponha em causa os rácios. Esse mecanismo tem um limite de 3,89 mil milhões de euros.
Num cenário mais adverso não pode ir além desse valor?
Estes 3,89 mil milhões dizem respeito a desvalorizações de ativos. Depois existe um conjunto de litigância muito grande e esse risco está no Fundo de Resolução – mas já estava. A decisão de 29 de dezembro [de transferência de obrigações do Novo Banco para o BES] tem também essa decisão. Não é algo de novo.
Mas aí o Tesouro pode ser chamado a injetar algum tipo de verba adicional?
O Tesouro pode vir a ser chamado pelo Fundo de Resolução a conceder um empréstimo ou uma garantia caso o Fundo de Resolução não tenha os meios financeiros para pagar. Mas aí não tem nada que ver com a venda do Novo Banco, tem que ver com uma decisão que foi tomada antes e que envolveu um conjunto de obrigacionistas. O processo está nos tribunais e, havendo uma decisão dos tribunais que tenha alguma espécie de contingência exigível, o Fundo de Resolução tem de ver os meios financeiros que tem, se as contribuições dos bancos chegam ou se tem de pedir um empréstimo e pagar com as contribuições dos bancos mais tarde. Há aqui uma grande confusão que se cria porque o Fundo de Resolução é financiado pelas contribuições dos bancos, mas estatisticamente é uma entidade pública, por razões que desafiam a própria compreensão humana.
A recapitalização da CGD pode fazer com que o défice fique acima de 3%. Têm algum tipo de garantia – formal ou informal – de que isso não terá consequências em termos de défice excessivo?
Aí há uma discussão que dura há demasiado tempo e que está a tombar quase para uma questão filosófica. A Caixa teve uma recapitalização em condições de mercado, não foi uma com ajudas de Estado. A Comissão Europeia, depois de discussões prolongadas com a DGComp, disse o seguinte: o Estado está a investir no banco nas mesmas condições em que o faria um acionista privado que fosse dono deste ativo. Posto isto, o que diz a legislação europeia é muito claro: ou essa capitalização serve para cobrir prejuízos passados decorrentes da natureza pública da instituição, pela prestação de serviço público ou a instituição está a ser recapitalizada, com a perspetiva de o acionista recuperar o capital, e aí não pode haver discriminação entre Estado e um acionista privado. A discussão é entre estas duas opções. Mas aquilo que nós consideramos e o que foi a decisão da Comissão é que o Estado fez um investimento.
Mas há outra visão do Eurostat.
A posição do Eurostat é tipicamente mais ortodoxa e diz que qualquer instituição pública que tenha tido prejuízos mais do que X anos e onde se injete capital, esse capital é reclassificado como despesa. Acontece que isso nunca foi feito numa instituição em que a Comissão Europeia tenha aprovado uma injeção de capital fora de ajudas de Estado. Esta é a discussão. O valor total são 2,1% do PIB. Com um défice de 1,4%, isso faz 3,5% do PIB. Aquilo que têm sido as discussões com a Comissão Europeia é que o que quer que venha a ser refletido em termos estatísticos será sempre considerado um efeito one-off.
Nunca correremos o risco de entrar num Procedimento dos Défices Excessivos (PDE)?
Isso não é uma garantia que tenhamos, nem é uma garantia que nos possam dar, mas é algo que consideramos. Já houve países com défices de 3,5% que não entraram no PDE. Aliás, seria ridículo Portugal voltar a um PDE passado pouco tempo, quando na altura em que foi tomada a decisão de saída esta questão já existia. Estou em crer que o bom senso prevalecerá e que o Eurostat vai perceber que não lhe cabe tomar decisões políticas. Seria muito estranho que um país que vai ter um défice de 1% no próximo ano fosse considerado como estando em défice excessivo. Não me parece que a decisão do Eurostat vá ter algum tipo de efeito prático. Por isso é que penso que estamos quase numa discussão filosófica sobre o que é um investimento e uma despesa.
Artigo publicado na edição digital do Jornal Económico. Assine aqui para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão.
RECOMENDADO
Taguspark
Ed. Tecnologia IV
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 71
2740-257 Porto Salvo
online@medianove.com